Por João José Veras de Souza (doutorando do Programa de Pós Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC)
Li o Manifesto (que adiante passo a identificar com o número 1) e o texto que lhe segue como explicativo “Manifesto à Comunidade Universitária. Eleição para Reitor.” Assinado por vários professores da UFSC(2). Li também o artigo do professor Paulo C. Philippi – A crise da UFSC não está nas drogas(3) – que puxa o assunto (todos publicados na internet no blog do jornalista Moacir Pereira, do Grupo RBS), e li também um outro artigo de autoria do mesmo professor publicado na página da APUFSC, sob o titulo Democracia na UFSC (4). Entendo que o Manifesto para ser melhor compreendido deve ser lido considerando o conjunto do referidos escritos. Há laços que lhes dão unidade – nestes, os fundamentos avançam para além do jurídico – e possibilitam a sua melhor compreensão, alimento essencial para o debate.
A questão levantada é diversa e riquíssima para análise. No entanto, vou me ater a alguns dos aspectos nela contidos que no momento me chamam mais atenção. Em síntese, as manifestações estão centradas na defesa do seguinte argumento: o processo informal de escolha da lista triplice para o cargo de reitor da UFSC não está atendendo a previsão da lei 9.192/95, no seu inciso III, que estabelece peso de 70% para o voto dos docentes em relação aos discentes e servidores. Mesmo apesar de que na UFSC, desde a década de 80 e, inclusive, sob a égide da referida Lei, o voto é paritário, o Manifesto pugna pelo fim desta prática ante a sua patente ilegalidade. (cfe 1, 2, 3 e 4)
O fundamento básico contido especialmente no Manifesto é, como demonstrado, o juridico. Mas não se resume/limita a ele (cfe 2). As referidas manifestaçõs fazem um esforço argumentativo para justificar a razão de existir daquela previsão legal. Usam como principio fundamental a importância da centralidade (de poder e de saber) sob o corpo docente na Universidade. Nesse sentido, aduzem ser o professor a sua base intelectual, portanto aquele que a pensa, razão pela qual defendem caber a ele o comando/liderança maior da instituição de ensino superior e, por tais razões, o direito de definir os seus destinos. (cfe 1, 2 e 3)
No artigo Democracia na UFSC, o professor Paulo C. Philippi, nesse sentido, é claro:
“A Universidade não é uma república. No processo de escolha do Reitor em uma autarquia pública o mestre possui o mérito de ser a base intelectual da universidade (o seu ‘corpo de governo’ nas palavras de Darcy Ribeiro), no sentido que ele é quem decide para aonde deve ir a universidade em suas metas de proporcionar à sociedade brasileira os meios para dominar, produzir e difundir conhecimento. E esta é a grande razão para que sua opinião seja privilegiada neste processo em relação à dos demais segmentos. E não só pela Lei.”(cfe 4)
Mas existem outros argumentos que, embora não estejam explicitamente expressos no corpo do Manifesto, estão bastante presentes nos outros textos especialmente naquele – A Crise da UFSC Não Está nas Drogas – que pega a carona/mote do recente evento politico-policial chamado, por uns, de “O Levante do Bosque”, e, por outros, de “A Revolução dos Maconheiros”. De fato, o conjunto de textos referidos se insurgem contra a paridade na escolha do Reitor baseado em, pelo menos, três argumentos: i) o a favor da legalidade;ii) o a favor da manutenção do poder docente e sua autoridade meritocrática-institucional, e iii) o contra um suposto poder discente – ou “cidadania universitária” – que supostamente quer transformar a UFSC numa “universidade popular”. (cfe 1, 2, 3 e 4)
Tenho para mim que todos os argumentos merecem ser problematizados tendo em conta as idéias que se possa ter de poder, de saber e de ser numa sociedade democrática.
É fato inquestionável a existência de uma Lei que, aos olhos de todos e por vontade popular (de toda a comunidade acadêmica) e também institucional, está sendo, em parte, desconsiderada – pontualmente no processo de escolha informal da lista tríplice. Na UFSC, há quase 20 anos que a paridade é a norma. Aliás, antes da lei – desde a década de 80 – que a paridade já era regra. Não se tem noticia que alguém tenha questionado judicialmente este fato. Nem as autoridades internas, nem externas, nem seus controles, nem a comunidade universitária. Aliás, este é um fato que se repete tal qual em 39 das 54 universidade púbicas brasileiras, portanto em quase 70%, delas, conforme dados levantados pela UNB em 2012 .
Este fenômeno coloca em xeque o poder da lei em relação à vontade popular e com a “conivência” das instituições. Isto é juridica e socialmente significativo. Não pode ser desprezado. Talvez esteja aqui a realização concreta da vontade – efetivamente – autônoma da comunidade universitária. Devemos pensar mais a respeito para além daquilo que possa siginificar uma conveniência pontual de grupos de poder. De um modo importante, isto coloca em questão a ideia de autonomia universitária na prática. O que, aliás, no sentido mais profundo, não revela autonomia nenhuma tendo em vista que, ao final e definitivamente, quem escolhe o reitor das universidades é o Chefe do Executivo Federal e não as suas comunidades.
Mas este não é o fundamento fonte/forte do manifesto. Como fazem questão de afirmar seus autores, não se trata especificamente de se questionar o cumprimento ou não da lei (cfe 2). O mais importante é o que a motiva e a justifica – o que a faz necessária no contexto universitário. Pelo que se pode observar, existem outras motivações que se substanciam na exata compreensão que os propositores do Manifesto – em relevo o professor Paulo C. Philippi – têm de poder, de saber e de ser no campo acadêmico institucional das universidades brasileiras. Vejamos.
O referido professor (cfe 3), aponta que há, embora minoritário, um poder estudantil em marcha dentro da UFSC – poder este voltado para a consecução de uma “universidade popular” – que está dando o ritmo à UFSC, causando, com isso, uma crise de autoridade na instituição. Para Paulo C. Philippi, o foco desse “levante” é o Centro de Filosofia e Ciências Humanas-CFH aonde se pratica o voto universal, regime pelo qual a vontade do discente tem o mesmo peso que a do docente. Acusa o professor que se está criando na UFSC “Uma forma de populismo que, ainda que possível de ser admitido em uma república, é extremamente nocivo em uma casa hierárquica baseada na meritocracia como é o ambiente universitário” (cfe 3).Assim, para ele, o que está em curso é “um projeto para transformar a UFSC numa ‘universidade popular’” (cfe 3). Segundo entende, não é isso que a sociedade catarinense quer. Para ele, o Estado de Santa Catarina deve à meritocracia implantada na UFSC o seu alto nível de desenvolvimento. Noutras palavras, o professor está dizendo que uma ‘universidade popular” se destata por se revelar o inverso do que a UFSC tem sido até agora. (cfe 3)
Como é posta tal ordem de entendimento, a premissa básica lançada é a de que uma “universidade popular” (o professor Paulo C. Phillip chega a afirmar que não sabe exatamente o que seja isto – cfe 3) ou pelo menos aquela que seja pautada num poder estudantil ou numa “cidadania universitária”, é contrária às ideias de competência acadêmica (mérito), de autoridade (como exercício da transmissão do “respeito ao conhecimento, à ética, aos valores humanos…” – cfe 3), e de legalidade. Segundo entende o professor, “a universidade não é uma república” (cfe 3 e 4). Aqui o argumento é claro no sentido de que há incompatibilidade frontal entre a idéia de democracia, portanto de participação na ordem do poder, com a de transmissão de saber. A universidade não seria uma coisa pública mas uma coisa do professor, aquele que detém o saber. A universidade, por essa linha de entendimento, seria um centro de saber e não de poder. Como se fosse possível tal separação e como se não houvesse poder nos sistemas de saberes e de sua produção e reprodução.
Esta questão coloca a existência de uma divergência de fundo entre aquilo que seria uma universidade baseada na meritocracia e na hierárquia em relação aquilo que seria uma universidade popular e democrática. Essa distinção traz, em si, a impossibilidade de convivência das oposições apontadas. Por este entendimento, a dupla popular/democracia é diametricamente incompatível com o par mérito/autoridade. Aqui parece residir uma espécie de preconceito diante do que seja considerado popular.O que é compreesível para quem nutre uma visão hierárquica entre saberes. Nesse sentido, a idéia de popular/democrático remete oposição ao conhecimento e à falta de hierarquia. Com isso, um poder popular – que para o professor significa uma forma de populismo (cfe 3) – na universidade representaria o fim do conhecimento, como mérito, bem como da hierarquia como método do exercício do poder. Insisto: por essa forma de compreensão, com uma universidade popular, o saber seria substituido pelo poder. Seria assim mesmo? Estaria confundindo porque é confuso ou é confuso porque se está confundindo?
Como se apresenta, o conjunto dos escritos também levam a crer que há uma politização negativa na universidade que é perniciosa ao poder (pois refuta a idéia de autoridade), ao saber (desconsidera a idéia de meritocracia) e ao ser (no que resulta a formação de indivíduos incompetentes e assim improdutivos). E essa politização negativa tem como foco de reprodução os alunos (alguns, a minoria – cfe 3) – limitados à condição de meros receptores dos conhecimentos acadêmicos – e a idéia que pregam de “universidade popular” em que seria exercida uma certa “cidadania universitária” (cfe 4).Sob tal prisma, a politização negativa – que se expressa como uma forma de “populismo” (cfe 3)- seria nociva à universidade representando, assim, o seu fim “…como centro de dominio, produção e difusão do conhecimento”. (cfe 3) Não existe saber na discência.
A contrario sensu, no outro polo, teríamos a não-politização – ou a politização positiva – que na universidade faz bem ao poder (reafirma a autoridade institucional sobretudo na figura do professor), ao saber (coloca o mérito como o meio para se alcançar o conhecimento significativo) e ao ser (forma indivíduos competentes e produtivos ). E essa não-politização tem como foco de reprodução os professores, aqueles a quem cabe pensar e fazer a universidade.
Quanto ao suposto avanço do poder estudantil em relação ao poder docente (causando uma crise de autoridade na instituição), tenho para mim que há um latente equívoco por aqui. Em última análise, a paridade não retira o poder que o corpo docente tem nas universidades federais brasileiras. Ela apenas esgarça a possibilidade da comunidade universitária – em suas categorias discente e de servidores – de participar dos processos eleitorais nos quais só – e somente só – o professor poder ser o eleito. Salvo raríssima exceção, o professor continua sendo, de fato e de direito, o único integrante da comunidade universitária a ter o direito de ocupar cargos de direção nas instituições federais de ensino, como reitorias, centros de ensino e órgãos colegidos deliberativos e executivos (nestes, integrando sempre como maioria). O que resta de alternativa para os alunos e servidores é apenas a opção de escolher entre este ou aquele professor. Muito embora se propala que a universidade se baseia numa gestão em que a sua comunidade – e não um de seus segmentos – é o ator principal. É fato que o poder hierárquico – acadêmico e administrativo – ainda se encontra nas mãos dos professores, apesar da paridade informal. É possível, diante deste contexto, pensar que tal fato venha a ofender princípios democráticos relacionados à participação na condução dos destinos da instituição em todos os sentidos.
Ademais, convenhamos, essa paridade informal é precária não só sob o ponto de vista jurídico. No pólo em que realmente interessa, posto que decisivo, ela está adstrita ao crivo formal dos 70% da representação docente do Conselho Universitário – quem dá a última palavra no sistema decisório da IFES. Em verdade, afora a força simbólica desta paridade, o seu poder político se sustenta por um triz no despenhadeiro dos interesses.
É bom lembrar, ainda, que, para aquém da condição de eleitores/votantes, os discentes e os servidores não detém qualquer poder decisório importante na estrutura institucional da universidade. As associações de servidores, centros acadêmicos e diretório central dos estudantes existem como meio-instrumento coletivo de condução de pautas, manifestação e luta por seus interesses e direitos. Suas participações nos colegiados da instituição – estes que decidem – é extremamente minoritária não oferencendo, com isso, nenhum risco de, pelo número, fazer qualquer alteração institucional. Mesmo no sistema paritário, sua força se limita a 1/3 dos votos, portanto ainda são, separadamente,a minoria no sistema eleitoral. O império dos professores continua intacto. Porque tamanho medo?
Por fim, no arcabouço das argumentaçõe dos escritos em questão, é, salvo melhor interpretação, possível se extrair – o que me parece igualmente expressivo – uma manifesta falta de consideração quanto ao papel do aluno como aquele que também pensa a universidade e contribui para o processo de construção – não só reprodução – de conhecimentos (se isto é certo nas graduações o é sobretudo nas pós-graduações). Os alunos vezes são tidos como se fossem páginas brancas disponíveis a quaisquer anotações dos seus mestres. A sua condição cidadã – que se opera fortemente quando resolve escrever e interpretar por conta própria suas páginas – é colocada como um comportamento a ser reprimido posto que subversivo às ordens professorais próprias dos sistemas hierarquicos irreflexivos e por isto autoritários. É este ser-sujeito que esta universidade pretende “formar”? Da mesma maneira, os servidores são postos à completa invisibilidade, no sistema de poder e saber, como se suas participações não fossem relevantes dentro do contexto da gestão acadêmica. A universidade não é só o professor, ela não é apenas de seu interesse – isto é o óbvio anotado sob as nossas cabeças – mas se todo o poder lhe for destinado – no caso específico de que estamos a pensar – de ser eleitor majoritário e único eleito – então é fácil concluir que o princípio da gestão democrática não passará de uma mera frase inócua. Aliás…
Mostrando postagens com marcador Academia. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Academia. Mostrar todas as postagens
sábado, 3 de maio de 2014
Pela democracia na UFSC: Resposta ao Manifesto que exige 70% de peso dos votos à categoria docente (Gabriel Martins)
Por Gabriel Martins*
Nas últimas semanas foi divulgado manifesto de servidores públicos da carreira de magistério superior da UFSC em que se exige que as eleições para reitor dessa universidade, a ocorrer em 2015, tenham os votos dos professores equivalentes a 70% dos votos totais, mesmo sendo os professores apenas 5% do total da comunidade universitária, composta também por estudantes e Técnicos-administrativos em Educação (TAEs). O documento foi divulgado na UFSC e na imprensa catarinense e responde pelos motivos dos pouco menos de 20% dos professores da UFSC terem encaminhado abaixo-assinado à Administração Central da universidade com a exigência do que interpretam ser o cumprimento das leis em torno das “eleições” para reitor na maior universidade de Santa Catarina.
No documento, assinado por 12 servidores, são expostos dois motivos centrais à exigência: (a) a legalidade e (b) o “mérito docente”. Carece o manifesto, portanto, de contextualização e, com base nessa mesma contextualização, falta ao manifesto elementos essenciais para a análise tanto da legalidade quanto do mérito, ao que me proponho aqui a examinar.
O contexto do manifesto
O abaixo-assinado foi elaborado no decorrer do desenvolvimento dos trabalhos de um Grupo de Trabalho (GT) designado pelo Conselho Universitário da UFSC (CUn) para revisar as regras para a consulta informal à comunidade universitária à escolha dos próximos reitor(a) e vice-reitor(a) da Instituição.
No decorrer dos trabalhos do GT foi divulgado um texto chamando a comunidade universitária para debater as formas legais possíveis de consulta, sendo apontada a discrepância dos regramentos formais, que não atendem a critérios democráticos por considerarem que cidadãos brasileiros se distinguem quando estão na Universidade. Para esclarecer os aspectos centrais dessa questão, abordarei aqui tanto a legalidade quanto o “mérito docente”, de modo a deixar claro que não há qualquer ilegalidade em os professores não terem peso 70% nas “eleições” para reitor. Viso também deixar claro que o alegado “mérito docente”, que justificaria o fato de os professores serem os únicos capazes de escolher o reitor das universidades, não tem consistência dentro das universidades brasileiras, conforme estão regradas pela Constituição de 1988. Ou seja, ou os autores do manifesto exigem o cumprimento integral das leis e aceitam que o “mérito docente” não é condizente com os argumentos apontados, ou defendem o “mérito docente” e contrariam a lei. Mas analisemos primeiro a legislação para as “eleições” de reitor nas Instituições Federais de Ensino Superior.
A legislação para as “eleições” para reitor
Em primeiro momento é relevante esclarecer: não existem, legalmente, eleições para reitor nas universidades brasileiras. A lei 5.540 de 1968 – período de exceção do Estado Brasileiro, que vivenciava naquele momento um processo ditatorial que perduraria por cerca de 21 anos – aponta que o cargo de reitor é exclusivamente nomeado pela presidência da República. Com o passar dos anos os decretos que melhor instruíam essa nomeação se alteraram e hoje o que perdura afirma que a presidência nomeia a reitoria das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) a partir do quadro de professores da própria instituição e que tenham título de doutorado. Para a escolha desse nome, a universidade elabora uma lista com três nomes de sua preferência, e em ordem de preferência, no que se chama lista tríplice.
Quem elabora a lista tríplice é o órgão deliberativo máximo da universidade no caso da UFSC é o CUn. O CUn tem de encaminhar a lista tríplice a partir de determinados regramentos. Os nomes são auto-indicados, ou seja, tem de haver o compromisso do professor doutor de querer ser reitor. Os nomes auto-indicados (candidatos) são votados pelo CUn, em um processo em que cada conselheiro universitário vota em somente um nome e os três mais votados compõem, em ordem de votação, a lista tríplice a ser encaminhada ao Ministério da Educação (MEC). O CUn é, por força de lei, formado pelo mínimo de 70% de professores.
Mas é possível também, por questões tanto de legalidade quanto de legitimidade, que o CUn faça uma consulta pública aos demais membros da comunidade universitária. Sem esse procedimento, seria possível o mais corrosivo mal a uma democracia: a perpetuação do poder, pois todos os professores do CUn são, por força de lei federal, indicados pelo reitor. Isso ocorre porque da mesma forma como é a presidência da República quem de fato escolhe a reitoria da universidade, é atribuição da reitoria a escolha dos diretores de centros de ensino e pró-reitores. E é atribuição dos diretores dos Centros de Ensino a escolha dos representantes docentes no Conselho Universitário. Ou seja, o reitor, por força de lei, nomeia 70% do Conselho Universitário.
Desse modo, se competir tão somente ao CUn a indicação da lista tríplice a ser encaminhada ao MEC, pode facilmente ocorrer a perpetuação de poder, pois 70% do CUn é, por lei, nomeado pelo reitor e esses mesmos 70% indicam o reitor.
As consultas são, desse modo, adotadas tanto para a escolha dos nomes da lista tríplice, quanto para a designação de Diretores dos Centros de Ensino, Coordenadorias de Curso etc.
As consultas, a legalidade e a legitimidade
Com a lógica de o CUn indicar os nomes para reitor e o reitor indicar os nomes para o CUn, que é o que obriga a legislação brasileira, as chances de constituição de uma oligarquia na gestão de todas as instâncias da universidade são imensas. Apesar de legal, tal medida não é, contudo, legítima. Imaginemos o que ocorreria se atual administração da UFSC passasse a exigir a lei e nomeasse novos diretores dos Centros de Ensino e representantes docentes para o CUn. A atual reitoria teria, portanto, automaticamente 70% de todas as cadeiras do CUn, que indicaria os novos nomes, em ordem de preferência, para a reitoria a partir de 2016. E ninguém se surpreenderia com uma reeleição ou com a condução de um de seus aliados políticos para a nova gestão, que então indicaria 70% do CUn, que indicaria o novo reitor, e assim, ad eternum, até a completa degeneração das instâncias democráticas e acadêmicas. Ou até o levante da universidade.
A fim de evitar comoções ou degenerações deletérias, as universidades adotam, desde os anos 60, o processo de consulta, que se assemelha a uma eleição. As consultas, contudo, não necessariamente substituem a indicação do CUn, mas indicam o que pensa a comunidade universitária, orientando e legitimando a escolha do Conselho. Na UFSC, as consultas datam de 1991. Nos anos 70, houve colégios eleitorais, sendo o de 1976 emblematicamente composto por 21 professores, 3 estudantes e 1 representante da FIESC. Os estudantes se recusaram a votar.
Atualmente todas as IFES brasileiras realizam consulta à sua comunidade, antes da elaboração da lista tríplice, e, em curiosa proporção, 70% das IFES realiza consulta com peso de votos paritários, ou seja, 33% dos votos da consulta é relativo a cada categoria (professores, TAEs e estudantes).
As consultas formais e informais
Há, conforme orientação do MEC, duas formas de consulta: as consultas formais e as consultas informais. A palavra formal diz respeito, é importante ressaltar, ao termo forma não ao termo legítimo, como pode, por vezes, parecer. O que diferencia, portanto, as consultas formais das consultas informais não é a formalidade do ato de consultar, ou quem realiza a consulta, mas o fato de que as consultas formais têm a forma pré-estabelecida de 70% dos votos válidos serem de servidores docentes (professores) e os outros 30% entre as restantes categorias. As consultas formais podem ter como consequência a possibilidade do colegiado eleitoral responsável por elaborar os documentos de encaminhamento da lista tríplice, havendo, portanto, a delegação de uma atividade do CUn para outro fórum.
A consulta informal, por seu turno, é um processo de consulta sem forma definida (por isso, reitero, o termo informal, que quer dizer aqui, sem forma) e que, desse modo, pode ter qualquer forma, sem haver desrespeito às normas postas. A maioria das consultas informais é paritária, mas nada impossibilita ou impede a consulta universal, ou seja, a instituição de uma forma de consulta que considera que o voto de qualquer indivíduo da comunidade universitária valha o mesmo que o de outro indivíduo, independente do vínculo estabelecido.
A consulta informal pode ser organizada por qualquer órgão ou entidade, e não há restrição legal para ser organizada por colegiado por delegação do CUn, desde que, após a consulta, os resultados sejam meramente norteadores. Ou seja, após a consulta, o CUn realiza uma eleição e elabora a lista tríplice, sem delegar qualquer atividade a outro grupo, colegiado ou órgão. Dessa forma, a despeito do afirmado de que esta consulta seria obrigação do CUn e que a consulta informal seria “terceirização” das atividades daquele Conselho, o que ocorre é justamente o contrário: com a consulta formal o CUn abdica de formular a lista tríplice, e com a consulta informal, o resultado da consulta volta ao CUn, que procede a formação da lista tríplice sem estar obrigado a consentir com os resultados da consulta.
O GT Democracia UFSC e a proposta polêmica
A crítica recebida de “terceirização das atividades do CUn” ao haver a sugestão de revisão das normas da consulta informal à comunidade é infundada, pois conforme ressaltei acima, o GT instituído pelo próprio CUn em análise à legislação vigente apontou para a necessidade de o CUn, diante de sua responsabilidade de envio da lista tríplice ao MEC, realizar anterior consulta à comunidade universitária, a fim de atender aos anseios dessa mesma comunidade, em acordo com os princípios democráticos e considerando que todos os membros da comunidade universitária possuem igualdade de condições de discernir, dentre os candidatos possíveis, quais os que possuem o mais relevante mérito de formular um programa legítimo perante a comunidade que representará por quatro anos.
Há quase 221 anos atrás a França escandalizava o mundo com a regulamentação do voto universal (para homens, diga-se de passagem). No mundo todo houve inúmeras teorizações sobre o valor dos homens ricos em detrimento dos homens pobres. Julgava-se que alguém sem posses era alguém incapaz de decidir por seu próprio futuro. Em verdade o que estava em jogo era a possibilidade de tributação da riqueza, que somente seria proposta por quem não fosse parte dos mais ricos. Hoje ninguém contesta o voto universal, extensivo agora (nada mais justo) às mulheres e a todos aqueles que são considerados passiveis de responderem por seus próprios atos. Ou seja, se um indivíduo é passível de responder por seus atos, ele é também passível de responder e opinar sobre o futuro de sua comunidade. Isso só não ocorre nas ditaduras.
Na Revolução Francesa, considerou-se que o voto era um direito inalienável de todo o ser humano, sendo equiparado ao direito à vida, por ser considerado o direito de decidir livremente por sua própria vida em sociedade.
Considerando todos esses aspectos, além dos conceitos de cidadania, o GT denominado “Democracia” propôs o voto universal, pois se para escolher o Presidente da República que é quem de fato nomeia os reitores, todos os membros da comunidade universitária com mais 16 anos têm o voto de mesmo peso, porque então para escolher quem integrará a lista tríplice a ser enviada para esse mesmo presidente seria diferente?
O voto universal não coloca em xeque que quem será o reitor ou reitora será um professor de magistério superior com título de doutorado, o que quer dizer que toda a apelação para que os professores decidam (sozinhos, ou praticamente sozinhos) o futuro da universidade não tem cabimento, pois só essa categoria pode ser dirigente máximo das universidades brasileiras, conforme largamente argumentado no Relatório Final do GT Democracia UFSC, disponível na página www.gtdemocracianaufsc.wordpress.com
A argumentação em torno do que aqui chamo de “mérito docente” do manifesto redigido pelos 12 professores da UFSC utiliza-se de vasto arsenal para apontar como somente os docentes podem direcionar as universidades em um protesto que não levava em consideração que a proposição de voto universal é, infelizmente, limitada ao voto, não a quem pode se eleger. Ou seja, independente da forma de consulta, somente professores do magistério com título de doutor podem assumir o cargo de reitor.
O vasto arsenal argumentativo em defesa do “mérito docente” era, portanto, irrelevante, a não ser que se considerasse que nem mesmo votar as demais categorias seriam capazes. Apesar de desnecessário, seu uso foi além de exagerada, carregado de sérios problemas, os quais não posso me furtar de comentar.
Quem é a base intelectual da universidade
No manifesto que circulou um pouco na universidade e um pouco mais na mídia se afirma que “O professor é a base intelectual da universidade. É ele quem cria as disciplinas e os programas de graduação e pós-graduação e quem estabelece e coordena os projetos de pesquisa e extensão. É o professor o responsável pelo domínio, produção e difusão do saber e pela formação dos nossos quadros, necessários ao desenvolvimento do país”. Há aqui, no entanto, afirmações bastante imprecisas.
(I)Em primeiro momento a produção do saber humano não é responsabilidade, nem, muito menos, exclusividade da docência. O professor não fundou o saber e a humanidade produz conhecimento em muitas outras áreas que não são abrangidas pela universidade.
(II)Se a produção do conhecimento não é exclusividade dos professores universitários, o ensino também não é atividade de um único sujeito. Não existe ensino sem aprendizagem, e esse processo de ensinar em nada se assemelha a uma transmissão de conhecimentos a um sujeito desprovido de saberes. O ensino-aprendizagem é um processo mais amplo em que os estudantes são tão sujeitos quanto os docentes, ainda que com momentos predominantes distintos.
(III) Se não é exclusividade docente a produção do conhecimento e o domínio do processo de ensino-aprendizagem, tampouco lhe são exclusivas as atividades de pesquisa e extensão. Conforme o artigo 207 da Constituição Federal, as atividades de ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis. Ou seja, não podem as universidades desenvolver atividades exclusivamente de ensino, ou de pesquisa ou de extensão. Além disso, os projetos de pesquisa têm de visar ao desenvolvimento do conhecimento e dos saberes humanos, que retornarão ao processo de ensino-aprendizagem, e os projetos de extensão apontam para outras formas de disseminação e desenvolvimento do conhecimento, que igualmente refluem ao processo de ensino-aprendizagem.
Se são indissociáveis, todas essas atividades fazem parte de um grande processo que é a produção, sistematização e socialização dos conhecimentos humanos em quaisquer áreas, e esse grande processo tem, em seus momentos constitutivos outros sujeitos que não professores, isso significa que o professor não é a base intelectual da universidade, mas uma dessas bases. Ora, se são indissociáveis as atividades de ensino, pesquisa e extensão e existem projetos de pesquisa e projetos de extensão que são coordenados e desenvolvidos por técnicos-administrativos em Educação (TAEs), isso quer dizer que essa categoria é muito mais que um mero suporte técnico e administrativo, mas é também parte constitutiva da produção, sistematização e socialização de conhecimentos.
São inúmeros os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelos TAEs da UFSC hoje, e variam de áreas técnicas, às ciências humanas, além de muitos projetos de pesquisa e extensão na área artística. Disso devem saber todos na universidade, ou ao menos todos aqueles que veem a universidade como algo mais que um grande colégio de estudantes letárgicos a receberem conhecimentos transmitidos por seres iluminados. A universidade, não somente as “boas universidade do mundo”, é um local de universalização do conhecimento, não somente no que diz respeito a quem “recebe” este conhecimento, mas em relação também a quem produz e sistematiza muito mais que disciplinas, mas saberes humanos.
* Gabriel Martins trabalha como Administrador no Centro de Ciências da Educação da UFSC, onde atua como Coordenador Administrativo desde que deixou o cargo de Coordenador de Apoio Pedagógico junto à Pró-reitoria de Graduação. Graduado e mestre em Administração pela UFSC, está no último ano do doutorado na UFRJ. É atualmente também coordenador de pesquisas aprovadas pela UFSC nas áreas de Políticas Públicas e coordena atualmente projetos de extensão nas áreas de literatura e teatro. Desde abril 2013 é conselheiro universitário e foi designado presidente do GT Democracia UFSC, cujo Relatório Final propondo o voto universal para a próxima consulta para reitor da UFSC foi entregue no dia 10 de abril de 2014.
Nas últimas semanas foi divulgado manifesto de servidores públicos da carreira de magistério superior da UFSC em que se exige que as eleições para reitor dessa universidade, a ocorrer em 2015, tenham os votos dos professores equivalentes a 70% dos votos totais, mesmo sendo os professores apenas 5% do total da comunidade universitária, composta também por estudantes e Técnicos-administrativos em Educação (TAEs). O documento foi divulgado na UFSC e na imprensa catarinense e responde pelos motivos dos pouco menos de 20% dos professores da UFSC terem encaminhado abaixo-assinado à Administração Central da universidade com a exigência do que interpretam ser o cumprimento das leis em torno das “eleições” para reitor na maior universidade de Santa Catarina.
No documento, assinado por 12 servidores, são expostos dois motivos centrais à exigência: (a) a legalidade e (b) o “mérito docente”. Carece o manifesto, portanto, de contextualização e, com base nessa mesma contextualização, falta ao manifesto elementos essenciais para a análise tanto da legalidade quanto do mérito, ao que me proponho aqui a examinar.
O contexto do manifesto
O abaixo-assinado foi elaborado no decorrer do desenvolvimento dos trabalhos de um Grupo de Trabalho (GT) designado pelo Conselho Universitário da UFSC (CUn) para revisar as regras para a consulta informal à comunidade universitária à escolha dos próximos reitor(a) e vice-reitor(a) da Instituição.
No decorrer dos trabalhos do GT foi divulgado um texto chamando a comunidade universitária para debater as formas legais possíveis de consulta, sendo apontada a discrepância dos regramentos formais, que não atendem a critérios democráticos por considerarem que cidadãos brasileiros se distinguem quando estão na Universidade. Para esclarecer os aspectos centrais dessa questão, abordarei aqui tanto a legalidade quanto o “mérito docente”, de modo a deixar claro que não há qualquer ilegalidade em os professores não terem peso 70% nas “eleições” para reitor. Viso também deixar claro que o alegado “mérito docente”, que justificaria o fato de os professores serem os únicos capazes de escolher o reitor das universidades, não tem consistência dentro das universidades brasileiras, conforme estão regradas pela Constituição de 1988. Ou seja, ou os autores do manifesto exigem o cumprimento integral das leis e aceitam que o “mérito docente” não é condizente com os argumentos apontados, ou defendem o “mérito docente” e contrariam a lei. Mas analisemos primeiro a legislação para as “eleições” de reitor nas Instituições Federais de Ensino Superior.
A legislação para as “eleições” para reitor
Em primeiro momento é relevante esclarecer: não existem, legalmente, eleições para reitor nas universidades brasileiras. A lei 5.540 de 1968 – período de exceção do Estado Brasileiro, que vivenciava naquele momento um processo ditatorial que perduraria por cerca de 21 anos – aponta que o cargo de reitor é exclusivamente nomeado pela presidência da República. Com o passar dos anos os decretos que melhor instruíam essa nomeação se alteraram e hoje o que perdura afirma que a presidência nomeia a reitoria das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) a partir do quadro de professores da própria instituição e que tenham título de doutorado. Para a escolha desse nome, a universidade elabora uma lista com três nomes de sua preferência, e em ordem de preferência, no que se chama lista tríplice.
Quem elabora a lista tríplice é o órgão deliberativo máximo da universidade no caso da UFSC é o CUn. O CUn tem de encaminhar a lista tríplice a partir de determinados regramentos. Os nomes são auto-indicados, ou seja, tem de haver o compromisso do professor doutor de querer ser reitor. Os nomes auto-indicados (candidatos) são votados pelo CUn, em um processo em que cada conselheiro universitário vota em somente um nome e os três mais votados compõem, em ordem de votação, a lista tríplice a ser encaminhada ao Ministério da Educação (MEC). O CUn é, por força de lei, formado pelo mínimo de 70% de professores.
Mas é possível também, por questões tanto de legalidade quanto de legitimidade, que o CUn faça uma consulta pública aos demais membros da comunidade universitária. Sem esse procedimento, seria possível o mais corrosivo mal a uma democracia: a perpetuação do poder, pois todos os professores do CUn são, por força de lei federal, indicados pelo reitor. Isso ocorre porque da mesma forma como é a presidência da República quem de fato escolhe a reitoria da universidade, é atribuição da reitoria a escolha dos diretores de centros de ensino e pró-reitores. E é atribuição dos diretores dos Centros de Ensino a escolha dos representantes docentes no Conselho Universitário. Ou seja, o reitor, por força de lei, nomeia 70% do Conselho Universitário.
Desse modo, se competir tão somente ao CUn a indicação da lista tríplice a ser encaminhada ao MEC, pode facilmente ocorrer a perpetuação de poder, pois 70% do CUn é, por lei, nomeado pelo reitor e esses mesmos 70% indicam o reitor.
As consultas são, desse modo, adotadas tanto para a escolha dos nomes da lista tríplice, quanto para a designação de Diretores dos Centros de Ensino, Coordenadorias de Curso etc.
As consultas, a legalidade e a legitimidade
Com a lógica de o CUn indicar os nomes para reitor e o reitor indicar os nomes para o CUn, que é o que obriga a legislação brasileira, as chances de constituição de uma oligarquia na gestão de todas as instâncias da universidade são imensas. Apesar de legal, tal medida não é, contudo, legítima. Imaginemos o que ocorreria se atual administração da UFSC passasse a exigir a lei e nomeasse novos diretores dos Centros de Ensino e representantes docentes para o CUn. A atual reitoria teria, portanto, automaticamente 70% de todas as cadeiras do CUn, que indicaria os novos nomes, em ordem de preferência, para a reitoria a partir de 2016. E ninguém se surpreenderia com uma reeleição ou com a condução de um de seus aliados políticos para a nova gestão, que então indicaria 70% do CUn, que indicaria o novo reitor, e assim, ad eternum, até a completa degeneração das instâncias democráticas e acadêmicas. Ou até o levante da universidade.
A fim de evitar comoções ou degenerações deletérias, as universidades adotam, desde os anos 60, o processo de consulta, que se assemelha a uma eleição. As consultas, contudo, não necessariamente substituem a indicação do CUn, mas indicam o que pensa a comunidade universitária, orientando e legitimando a escolha do Conselho. Na UFSC, as consultas datam de 1991. Nos anos 70, houve colégios eleitorais, sendo o de 1976 emblematicamente composto por 21 professores, 3 estudantes e 1 representante da FIESC. Os estudantes se recusaram a votar.
Atualmente todas as IFES brasileiras realizam consulta à sua comunidade, antes da elaboração da lista tríplice, e, em curiosa proporção, 70% das IFES realiza consulta com peso de votos paritários, ou seja, 33% dos votos da consulta é relativo a cada categoria (professores, TAEs e estudantes).
As consultas formais e informais
Há, conforme orientação do MEC, duas formas de consulta: as consultas formais e as consultas informais. A palavra formal diz respeito, é importante ressaltar, ao termo forma não ao termo legítimo, como pode, por vezes, parecer. O que diferencia, portanto, as consultas formais das consultas informais não é a formalidade do ato de consultar, ou quem realiza a consulta, mas o fato de que as consultas formais têm a forma pré-estabelecida de 70% dos votos válidos serem de servidores docentes (professores) e os outros 30% entre as restantes categorias. As consultas formais podem ter como consequência a possibilidade do colegiado eleitoral responsável por elaborar os documentos de encaminhamento da lista tríplice, havendo, portanto, a delegação de uma atividade do CUn para outro fórum.
A consulta informal, por seu turno, é um processo de consulta sem forma definida (por isso, reitero, o termo informal, que quer dizer aqui, sem forma) e que, desse modo, pode ter qualquer forma, sem haver desrespeito às normas postas. A maioria das consultas informais é paritária, mas nada impossibilita ou impede a consulta universal, ou seja, a instituição de uma forma de consulta que considera que o voto de qualquer indivíduo da comunidade universitária valha o mesmo que o de outro indivíduo, independente do vínculo estabelecido.
A consulta informal pode ser organizada por qualquer órgão ou entidade, e não há restrição legal para ser organizada por colegiado por delegação do CUn, desde que, após a consulta, os resultados sejam meramente norteadores. Ou seja, após a consulta, o CUn realiza uma eleição e elabora a lista tríplice, sem delegar qualquer atividade a outro grupo, colegiado ou órgão. Dessa forma, a despeito do afirmado de que esta consulta seria obrigação do CUn e que a consulta informal seria “terceirização” das atividades daquele Conselho, o que ocorre é justamente o contrário: com a consulta formal o CUn abdica de formular a lista tríplice, e com a consulta informal, o resultado da consulta volta ao CUn, que procede a formação da lista tríplice sem estar obrigado a consentir com os resultados da consulta.
O GT Democracia UFSC e a proposta polêmica
A crítica recebida de “terceirização das atividades do CUn” ao haver a sugestão de revisão das normas da consulta informal à comunidade é infundada, pois conforme ressaltei acima, o GT instituído pelo próprio CUn em análise à legislação vigente apontou para a necessidade de o CUn, diante de sua responsabilidade de envio da lista tríplice ao MEC, realizar anterior consulta à comunidade universitária, a fim de atender aos anseios dessa mesma comunidade, em acordo com os princípios democráticos e considerando que todos os membros da comunidade universitária possuem igualdade de condições de discernir, dentre os candidatos possíveis, quais os que possuem o mais relevante mérito de formular um programa legítimo perante a comunidade que representará por quatro anos.
Há quase 221 anos atrás a França escandalizava o mundo com a regulamentação do voto universal (para homens, diga-se de passagem). No mundo todo houve inúmeras teorizações sobre o valor dos homens ricos em detrimento dos homens pobres. Julgava-se que alguém sem posses era alguém incapaz de decidir por seu próprio futuro. Em verdade o que estava em jogo era a possibilidade de tributação da riqueza, que somente seria proposta por quem não fosse parte dos mais ricos. Hoje ninguém contesta o voto universal, extensivo agora (nada mais justo) às mulheres e a todos aqueles que são considerados passiveis de responderem por seus próprios atos. Ou seja, se um indivíduo é passível de responder por seus atos, ele é também passível de responder e opinar sobre o futuro de sua comunidade. Isso só não ocorre nas ditaduras.
Na Revolução Francesa, considerou-se que o voto era um direito inalienável de todo o ser humano, sendo equiparado ao direito à vida, por ser considerado o direito de decidir livremente por sua própria vida em sociedade.
Considerando todos esses aspectos, além dos conceitos de cidadania, o GT denominado “Democracia” propôs o voto universal, pois se para escolher o Presidente da República que é quem de fato nomeia os reitores, todos os membros da comunidade universitária com mais 16 anos têm o voto de mesmo peso, porque então para escolher quem integrará a lista tríplice a ser enviada para esse mesmo presidente seria diferente?
O voto universal não coloca em xeque que quem será o reitor ou reitora será um professor de magistério superior com título de doutorado, o que quer dizer que toda a apelação para que os professores decidam (sozinhos, ou praticamente sozinhos) o futuro da universidade não tem cabimento, pois só essa categoria pode ser dirigente máximo das universidades brasileiras, conforme largamente argumentado no Relatório Final do GT Democracia UFSC, disponível na página www.gtdemocracianaufsc.wordpress.com
A argumentação em torno do que aqui chamo de “mérito docente” do manifesto redigido pelos 12 professores da UFSC utiliza-se de vasto arsenal para apontar como somente os docentes podem direcionar as universidades em um protesto que não levava em consideração que a proposição de voto universal é, infelizmente, limitada ao voto, não a quem pode se eleger. Ou seja, independente da forma de consulta, somente professores do magistério com título de doutor podem assumir o cargo de reitor.
O vasto arsenal argumentativo em defesa do “mérito docente” era, portanto, irrelevante, a não ser que se considerasse que nem mesmo votar as demais categorias seriam capazes. Apesar de desnecessário, seu uso foi além de exagerada, carregado de sérios problemas, os quais não posso me furtar de comentar.
Quem é a base intelectual da universidade
No manifesto que circulou um pouco na universidade e um pouco mais na mídia se afirma que “O professor é a base intelectual da universidade. É ele quem cria as disciplinas e os programas de graduação e pós-graduação e quem estabelece e coordena os projetos de pesquisa e extensão. É o professor o responsável pelo domínio, produção e difusão do saber e pela formação dos nossos quadros, necessários ao desenvolvimento do país”. Há aqui, no entanto, afirmações bastante imprecisas.
(I)Em primeiro momento a produção do saber humano não é responsabilidade, nem, muito menos, exclusividade da docência. O professor não fundou o saber e a humanidade produz conhecimento em muitas outras áreas que não são abrangidas pela universidade.
(II)Se a produção do conhecimento não é exclusividade dos professores universitários, o ensino também não é atividade de um único sujeito. Não existe ensino sem aprendizagem, e esse processo de ensinar em nada se assemelha a uma transmissão de conhecimentos a um sujeito desprovido de saberes. O ensino-aprendizagem é um processo mais amplo em que os estudantes são tão sujeitos quanto os docentes, ainda que com momentos predominantes distintos.
(III) Se não é exclusividade docente a produção do conhecimento e o domínio do processo de ensino-aprendizagem, tampouco lhe são exclusivas as atividades de pesquisa e extensão. Conforme o artigo 207 da Constituição Federal, as atividades de ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis. Ou seja, não podem as universidades desenvolver atividades exclusivamente de ensino, ou de pesquisa ou de extensão. Além disso, os projetos de pesquisa têm de visar ao desenvolvimento do conhecimento e dos saberes humanos, que retornarão ao processo de ensino-aprendizagem, e os projetos de extensão apontam para outras formas de disseminação e desenvolvimento do conhecimento, que igualmente refluem ao processo de ensino-aprendizagem.
Se são indissociáveis, todas essas atividades fazem parte de um grande processo que é a produção, sistematização e socialização dos conhecimentos humanos em quaisquer áreas, e esse grande processo tem, em seus momentos constitutivos outros sujeitos que não professores, isso significa que o professor não é a base intelectual da universidade, mas uma dessas bases. Ora, se são indissociáveis as atividades de ensino, pesquisa e extensão e existem projetos de pesquisa e projetos de extensão que são coordenados e desenvolvidos por técnicos-administrativos em Educação (TAEs), isso quer dizer que essa categoria é muito mais que um mero suporte técnico e administrativo, mas é também parte constitutiva da produção, sistematização e socialização de conhecimentos.
São inúmeros os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelos TAEs da UFSC hoje, e variam de áreas técnicas, às ciências humanas, além de muitos projetos de pesquisa e extensão na área artística. Disso devem saber todos na universidade, ou ao menos todos aqueles que veem a universidade como algo mais que um grande colégio de estudantes letárgicos a receberem conhecimentos transmitidos por seres iluminados. A universidade, não somente as “boas universidade do mundo”, é um local de universalização do conhecimento, não somente no que diz respeito a quem “recebe” este conhecimento, mas em relação também a quem produz e sistematiza muito mais que disciplinas, mas saberes humanos.
* Gabriel Martins trabalha como Administrador no Centro de Ciências da Educação da UFSC, onde atua como Coordenador Administrativo desde que deixou o cargo de Coordenador de Apoio Pedagógico junto à Pró-reitoria de Graduação. Graduado e mestre em Administração pela UFSC, está no último ano do doutorado na UFRJ. É atualmente também coordenador de pesquisas aprovadas pela UFSC nas áreas de Políticas Públicas e coordena atualmente projetos de extensão nas áreas de literatura e teatro. Desde abril 2013 é conselheiro universitário e foi designado presidente do GT Democracia UFSC, cujo Relatório Final propondo o voto universal para a próxima consulta para reitor da UFSC foi entregue no dia 10 de abril de 2014.
terça-feira, 1 de abril de 2014
Ex isto: E se Descartes tivesse vindo ao Brasil? (Bruno Lorenzatto)

Por Bruno Lorenzatto*
Ex isto (2011) é o título do filme de Cao Guimarães, inspirado no livro de Paulo Leminski – Catatau (1975) –, possivelmente a obra mais experimental produzida pelo poeta. O tema: René Descartes, matemático e filósofo francês, pensador incontornável do racionalismo e da tradição filosófica, vem ao Brasil quando da missão holandesa comandada por Maurício de Nassau, no século XVII. Descartes de fato se alistou no exército holandês na época de Nassau, embora nunca tenha vindo ao Brasil.
Mas é do impossível e da irrealidade também de que se trata a arte, isto é, da invenção de outras realidades. Questão política, poder-se-ia dizer. A arte é capaz de produzir o deslocamento da percepção que se tem da própria realidade. Em outras palavras, a arte desordena a aparente ordem do real.
É do atravassamento do outro como experiência transformadora do sujeito de que fala o filme de Cao Guimarães (e o livro de Leminski), mas também de um questionamento da colonização. Catatau e Ex isto como máquina de guerra (estética e política) contra a lógica da colonização.
Durante todo o filme, as imagens do filósofo, percorrendo rios, praias, florestas, cidades, deslizam na tela, sem que em nenhum momento seja mostrado Descartes falando. E, no entanto, escuta-se a sua voz, que se mescla às imagens (suplementando o que se vê, por vezes em disjunção com a imagem), como se fosse seu pensamento – fragmentos extraídos do monólogo caótico do filósofo em Catatau. Esta voz vem de fora, não é Descartes quem fala. Tudo se passa como se seu pensamento viesse do exterior, viesse do outro. Não é mais o eu que pensa. O pensamento atravessa como um invasor, um intruso, a estrutura tranquila do sujeito. De modo que é possível dizer: a abordagem de Cao Guimarães em Ex isto atesta uma crítica ao modo de reflexão cartesiana. Porém há mais: o próprio Descartes no interior da ficcção parece refutar a si mesmo.
Ex isto mostra Descartes experimentando seu corpo e problematizando seu pensamento numa terra que o transforma: jogado ao mar ou em êxtase na areia da praia; dançando uma “estranha” música ou comendo frutas desconhecidas, fumando ervas alucinóginas. Um improvável Descartes louco, drogado, nu na praia, que se deleita e se angustia com as sensações, os prazeres, os excessos e os limites do corpo – o eu se espalha pela superfície da pele e dos sentidos. A ordem lógica do pensamento precipita-se em gagueira ou afasia. “Este mundo é o lugar do desvario, a justa razão aqui delira” (P. 19). O corpo do filósofo já não fala a mesma língua de suas convicções. O Tupi-guarani contra o francês ou latim. A lógica racionalista caduca e cede lugar à ordem do desejo proveniente do inesperado. A racionalidade pura encontra o afeto, para se tornar substância indissociável.
No sistema cartesiano, o eu é estabelecido como verdade definitiva e fundamental. Mas quando a alteridade dos trópicos atravessa o corpo de Descates, em Catatau e Ex isto, o filósofo francês já não sabe dizer como antes: Cogito, ergo sum (penso, logo existo). “Claro que já não creio no que penso (…) Duvido se existo, quem sou eu se este tamanduá existe?” (P. 20), diz o Descartes de Leminski.
É que a lógica cartesiana não dá conta deste outro impensável: o calor asfixiante do Recife, a mata com sua fauna e flora “exóticas”, a geografia e o estranho mapa da terra, a cultura – os costumes, os hábitos alimentares e os habitantes, a música e a dança inimagináveis e, por fim, o próprio corpo de Descartes (que já não é o mesmo) atravessado por essa alteridade. O ato de pensar e o eu se encontram em crise: “Um papagaio pegou meu pensamento, amola palavras em polaco (…) Bestas grandes no mais aceso fogo do dia… Comer esses animais há de perturbar singularmente as coisas do pensar” (P. 17).
Se este outro impensável – impossível de ser sistematizado em termos racionais –, de fato, existe, e Descartes o experimenta (como o avesso de si mesmo), a sólida existência do eu – a lógica eurocêntrica – já não pode se afirmar como antes. Em Sexta-feira ou os limbos do pacífico, de Michel Tournier, Robinson Crusoe, isolado numa ilha, levanta a questão que poderia ser a de Descartes no Brasil: “Existir, o que isso quer dizer? Quer dizer estar fora, sistere ex. O que está no exterior existe. O que está no interior não existe. Minhas ideias, minhas imagens, meus sonhos não existem (…) O que vem a complicar tudo é o fato de que aquilo que não existe se obstina a fazer acreditar o contrário. Há uma grande e comum aspiração do inexistente em direção ao existente. Como uma força centrífuga que empurraria para fora tudo o que se move em mim, imagens, devaneios, projetos, fantasias, desejos, obsessões. O que não ex-iste in-siste. Insiste para existir. Todo esse pequeno mundo se empurra à porta do grande, do verdadeiro mundo. E é o outro que tem a chave” (grifos meus)*.
De forma que se conclui que não é do eu que deriva o outro, mas sim o oposto – a existência do outro é que possiblita a existência do eu. O primado do outro sobre o eu – toda uma reformulação estético-política.
Radical deslocamento que questiona a lógica do colonizador (que submete o Outro – colonizado – ao domínio do Eu – colonizador): “Catatau é o fracasso da lógica cartesiana branca no calor… emblema do fracasso do projeto batavo, branco, no trópico” (P. 212), diz Leminski.
A contrapartida da colonização ou o efeito não calculado da colonização sobre o colonizador. A terra (o outro) mapeada, territorializada é a mesma que desterritorializa o pretenso fundador (o eu). A colonização do colonizador pela terra colonizada. O Homem, Branco, Europeu, Racional, em uma palavra – a Pureza – é corrompida pela terra impensável, pela experiência radical do outro, que o sujeito se permite (ou é obrigado) a experimentar e, no caso de Descartes, a pensar sobre essa experiência e sobre a experiência do pensamento.
A impossibilidade do ato de conhecer (antes assegurado pela certeza da existência do eu) é colocada em questão. O abalo das certezas conduz o filósofo a eximir-se de seus postulados anteriores e devanear: “o nada é o maior espetáculo da Terra”, afirma Descartes em uma cena do filme.
Ex isto e Catatau como a colonização de Descartes pela experiência do corpo, que é a experiência de uma outra terra, de uma outra cultura. De tal forma que as manchas, as rasuras marcadas em sua carne são capazes de fraturar seu pensamento.
A tradicional dualidade que a filosofia não cessou de operar por séculos, entre espírito e corpo já não faz mais sentido. Descartes, no Brasil, é pura matéria, corpo que pensa a si mesmo e a existência através do corpo.
O paradoxo: Descartes duvida de sua própria existência. Descartes, o outro, pode ver a si mesmo e a vida com “outros olhos e com os olhos dos outros”
*trecho de Sexta-feira ou os limbos do pacífico extraído do blog:
http://jevousdefenestre.blogspot.com.br/search/label/Michel%20Tournier
Link para o trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rxl9SkNIKmY
Link para o filme completo no youtube: https://www.youtube.com/watch?v=iJJGhOTkz14
site do diretor: http://www.caoguimaraes.com/
–
*Bruno Lorenzatto é licenciado em história e mestre em filosofia pela PUC-Rio
quarta-feira, 8 de janeiro de 2014
Revistas científicas ou túmulos do saber? (Alex Martins Moraes)
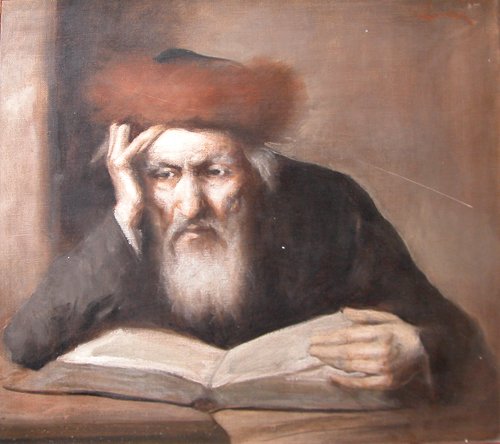
Por Alex Martins Moraes
O que a entrega do prêmio Nobel de medicina 2013 e a divulgação dos resultados da avaliação trienal do sistema de pós-graduação no Brasil têm em comum? Além de ambos os eventos terem ocorrido na primeira quinzena de dezembro, eles também convergem, por razões distintas, em outro sentido: representam uma boa oportunidade para repensar e criticar as modalidades vigentes de produção do conhecimento em nosso país.
O biólogo molecular estadunidense Randy Wayne Schekman, que recebeu o prêmio Nobel junto com seus pares James Rothman e Thomas Südhof, aproveitou a visibilidade pública proporcionada pela premiação para instaurar uma forte polêmica com algumas das publicações científicas mais importantes no campo das ciências biológicas. Em coluna publicada no The Guardian um dia antes da cerimônia do Nobel (versão em espanhol publicada pelo El País), Randy Schekman acusou as revistas Nature, Science e Cell de prestarem um verdadeiro desserviço à ciência, difundindo práticas propriamente especulativas para garantirem seus mercados editoriais. Entre estas práticas, Schekman menciona a redução artificial da quantidade de artigos aceitos para publicação, a adoção de critérios sensacionalistas na seleção das colaborações e um total descompromisso com a qualificação do debate científico. Schekman conclui sua intervenção com o seguinte chamado à comunidade científica: “Da mesma forma que Wall Street precisa terminar com o domínio da cultura dos bônus, que fomenta certos riscos que são racionais para os indivíduos, mas prejudiciais para o sistema financeiro, a ciência deve se libertar da tirania das revistas de luxo. A consequência dessa escolha será uma pesquisa que sirva melhor aos interesses da ciência e da sociedade”.
Aparentemente refratária a esse tipo de crítica – que, aliás, vem se tornando cada vez mais comum em todas as áreas do conhecimento–, a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) confere um peso decisivo às publicações em revistas de alto impacto no momento de avaliar o desempenho e a qualidade dos cursos de pós-graduação brasileiros. Para a antropologia, área da qual provenho, a avaliação da CAPES atribui um peso de 40% sobre a nota final à produção intelectual dos docentes de cada instituição. Na prática isto significa que, para atingir os conceitos máximos de avaliação (6 e 7), um determinado programa de pós-graduação deve esperar que todos os seus professores de mestrado e doutorado efetuem – para citar diretamente o roteiro de avaliação da CAPES – “a publicação de resultados de pesquisa, sob a forma de artigos em periódicos científicos, livros e capítulos de livros qualificados, com destacada proporção e média por docente nos estratos A1, A2 e B1 do Qualis Periódicos”. Levando em conta a quantidade de artigos publicados pelos docentes permanentes dos programas de pós-graduação em antropologia mais produtivos no triênio 2010-2012, o “ideal” seria, em média, cerca de duas publicações por ano por docente em revistas indexadas – isto sem mencionar as demais publicações, como livros, capítulos de livros, audiovisuais, relatórios técnicos, etc.
topo-posts-margem
A avaliação da CAPES na área antropologia/arqueologia não leva em conta o fator de impacto das publicações, dado que a maioria das revistas de ciências humanas não dispõe dos meios para quantificá-lo. Neste caso, a classificação dos periódicos nos estratos A1 e A2 exige, entre outras coisas, que eles figurem em indexadores internacionais. Já o estrato B1 requer que figurem em pelo menos dois indexadores, sejam eles internacionais ou não. Outras áreas, como a medicina, adotam diretamente uma classificação elaborada com base na mediana do fator de impacto das revistas, obtidos junto ao Journal Citation Reports (JCR) e calculados anualmente pelo ISI Web of Knowledge. Isto implica o condicionamento da avaliação da produção científica às dinâmicas do mercado editorial internacional, com todas as consequências aventadas por Randy Schekman em seu artigo no The Guardian. Pior ainda, ao aplicar classificações desta ordem, a CAPES enfraquece o próprio parque editorial nacional e favorece uma forma questionável de internacionalizar a produção científica, colocando as revistas mantidas por universidades públicas e entidades de classe em detrimento de periódicos estrangeiros, financiados, em sua maioria, pela iniciativa privada e aferrados aos cânones da propriedade intelectual.
No caso das ciências sociais e humanas, o produtivismo amparado pelas avaliações da CAPES se materializa numa miríade de efeitos preocupantes, alguns deles inesperados. Não me refiro apenas à precarização do trabalho de professores e estudantes ou à perda de organicidade da produção intelectual decorrente da ênfase obsessiva na escrita de artigos e de apresentações para congressos. Talvez o aspecto mais assustador e menos criticado de uma avaliação da pós-graduação inspirada pela ideologia produtivista seja que ela ampara o epistemicídio. O epistemicídio – noção desenvolvida, entre outros, por Boaventura de Sousa Santos – consiste na eliminação ou inferiorização ativa de algumas formas de conhecimento em favor de outras, consideradas mais desejáveis no marco de uma dada estratégia de poder. Por exemplo, a anulação de certos saberes locais, sua folclorização ou deslegitimação pública foi e é uma modalidade de epistemicídio aplicada sobre diversas populações ao longo das experiências coloniais na América, Áfria e Ásia. O produtivismo está a serviço do epistemicídio porque bloqueia ou dificulta seriamente e emergência de outras formas de construção e enunciação do conhecimento em um momento de relativa democratização das universidades públicas brasileiras. Em poucas palavras, o produtivismo compromete a diversidade das formas de fazer ciência e a própria criatividade humana no exato momento em que se converte em critério valorativo hegemônico para a distribuição dos recursos necessários à produção de conhecimento. Ao erigir-se como critério chave de avaliação da relevância da produção intelectual, ele impõe sistemas de hierarquização que só fazem reiterar privilégios epistêmicos de longa data e comutá-los, logicamente, em privilégios político-institucionais. Só as modalidades mais conservadoras e pouco imaginativas de fazer ciência se adaptam, sem grandes problemas, aos atuais imperativos de quantificação. Já os estudos guiados pela co-investigação prolongada e participativa, os amplos panoramas exploratórios, as práticas colaborativas e situadas de escrita científica, etc. não conseguem sobreviver a esses imperativos.
As ciências sociais e humanas hegemônicas, legitimadas pelo produtivismo, marginalizam – ou produzem como inexistentes – outras práticas de produção intelectual; elas impõem seu universalismo abstrato ao pluralismo real dos discursos e das práxis intelectuais vigentes na universidade e fora dela. As instituições encarregadas de produzir conhecimento humanístico manejam orçamentos que, sem serem os mais robustos do sistema universitário brasileiro, não podem, ainda assim, considerar-se insignificantes. Trata-se de orçamentos conformados com dinheiro público acumulado através da cobrança de impostos majoritariamente regressivos a populações empobrecidas. Estes recursos têm sido aplicados, frequentemente, no estímulo de uma dinâmica universitária tendente a afastar estudantes e professores da problematização dos dilemas reais suscitados pela vida democrática em nosso país. Na prática, os chamados “problemas de investigação” acabam sendo inventados nos corredores da academia – ou importados dos debates prestigiosos e “de ponta” do norte global – para serem “resolvidos” no “lado de fora empírico”, com as “pessoas comuns” e depois convertidos em digressões que atendem apenas à agenda editorial vigente no mercado das publicações acadêmicas. Como se não bastasse, o dinheiro público destinado à formação de jovens pesquisadores no exterior é por vezes “investido” na perpetuação da subalternidade epistêmica das academias do sul global mediante editais que reiteram regimes de legitimidade científica diretamente coloniais.
Com a hegemonia da quantificação na elaboração dos sistemas de avaliação científica, cada vez menos a universidade poderá ser concebida como espaço de estímulo ao florescimento de “ciências sociais de outra forma”, baseadas no sentido de responsabilidade e colaboração em pesquisa, no cultivo de vínculos duradouros e qualificados com comunidades e sujeitos e na articulação entre problemáticas investigativas e dilemas socialmente compartilhados. Nossos prestigiosos programas de pós-graduação mais se assemelham organismos autistas, imersos em transe profundo, alheios a qualquer preocupação com a importância social do conhecimento científico. O que parece dinamizar a produção de conhecimento é a própria vontade de produzir racionalizada e eficientemente. Grosso modo: produção pela produção. Eis o círculo virtuoso (ou seria círculo vicioso?) do saber.
O que fazer num cenário em que a quase totalidade da produção de conhecimento promovida pelas ciências sociais e humanas encontra-se submetida a um estandarte geral de avaliação caracterizado pela (in)determinação quantitativa de toda a qualidade? Michael Eisen, professor da Universidade da Califórnia em Berkeley, que reagiu positivamente às criticas levantadas por Randy Schekman nas vésperas da entrega do Nobel, sugere a criação de sistemas alternativos de legitimação das práticas intelectuais. Para ele, todos os cientistas deveriam “atacar o uso das publicações para avaliar os pesquisadores, fazendo-o sempre que possível quando contratarem cientistas para o seu próprio laboratório ou departamento, quando revisarem as solicitações de financiamento ou julgarem os candidatos para uma vaga” (ver matéria no El País:). Mais próximos de nós, os estudantes de mestrado em Antropologia Social da UFRGS, que paralisaram suas atividades acadêmicas na primavera de 2011 para questionar o produtivismo e as genealogias institucionais estabelecidas também oferecem uma alternativa: “paremos para pensar”. Esta, que foi a consigna da sua greve, nos alenta com a perspectiva de que a desestabilização da engrenagem produtivista é possível através da conformação de uma ética e de uma prática intelectual alternativa. Ao comentar a greve dos estudantes de Porto Alegre, o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos concluiu o seguinte: “O vosso movimento (…) é parte dessa sociologia das emergências, porque é gente que está em busca de uma renovação epistemológica, política e o faz entre si, em pequenos grupos. Certamente os meios de comunicação não noticiaram, certamente não foi útil para o currículo deles ou para o programa de estudos deles, mas estão a emergir outras realidades” (entrevista completa na Tinta Crítica).
Talvez estas práticas “dissidentes” sejam um caminho para explorar novas lealdades e alianças políticas que conduzam a vias alternativas de legitimação da produção intelectual. O desafio, portanto, é erigir espaços profissionais dignos e reconhecidos mais além das aparelhagens institucionais produtivistas, de forma a superar as tentativas de epistemicídio e abrir passagem à proliferação de práticas intelectuais indisciplinadas, ecumênicas e participativas. Assumindo tal postura, corremos o risco de perdermos, num primeiro momento, o aval dos números, dos mercados editoriais e da tecnocracia, mas ganhamos um valioso terreno para construir objetividade e provar a validade dos nossos postulados: a práxis humana. Neste terreno pode vicejar uma ciência sucessora, amparada em novas redes de diálogo em política; uma ciência aberta a programas de investigação nos quais a verdade reside, parafraseando novamente a Boaventura de Sousa Santos, naquele conhecimento “que nos guia conscientemente e com êxito na passagem de um estado de realidade para outro estado de realidade”.
A tarefa parece hercúlea e certamente nem todos os pesquisadores estarão interessados em aceitá-la. Uma coisa, no entanto, é certa: ao desenvolver investigações, emitir laudos de demarcação de terras indígenas, frequentar eventos acadêmicos, escrever textos, produzir imagens, enunciar discursos políticos, etc. os cientistas sociais incorporam e colocam em ato suas disciplinas. E é por esta mesma via que também estão em condições de colocá-las em questão, disputando seus efeitos e funções. Nós podemos, portanto, atuar no registro da reprodução, abastecendo o aparelho disciplinar herdado, ou podemos bloquear a atualização de certas dinâmicas produtivas, exercendo uma reflexão crítica e pragmática a respeito das ferramentas político-institucionais disponíveis à ação transformadora.
(Disponível em: http://outraspalavras.net/destaques/revistas-cientificas-ou-tumulos-do-saber/)
Assinar:
Comentários (Atom)