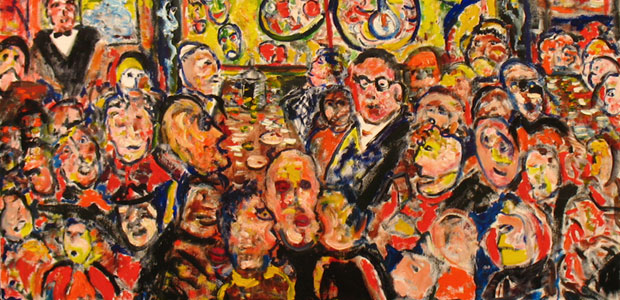Represa de Bragança Paulista, no interior de SP, que faz parte do sistema Cantareira, está quase seca
Perspectiva de racionamento em S.Paulo e disputas pelo Rio Paraíba sugerem: políticas atuais levarão a desastre. É preciso tratar recurso como Bem Comum
Por Cândido Grzybowski*, via Carta Maior
A água bem merece um dia seu no nosso calendário, o 22 de março. Este reconhecimento só se deu em 1993, após a Eco-92. No fundo, deveríamos celebrar a água todos os dias, o dia inteiro. Mas só lembramos dela na sua falta ou no seu excesso. Quem vive em territórios áridos ou semiáridos, dada a sua relativa escassez, organiza a vida em torno à água. No Brasil, isto vale para a grande Região Nordeste, que possui 30% da população brasileira e só 3% da água. São seculares as secas no Nordeste, tanto quanto a nossa incapacidade de gerir a questão. Afinal, no nosso semiárido até chove mais do que na Argélia, por exemplo. Por que, com mais água, nosso povo sofre tanto?
Açudes, represas e poços foram feitos ao longo do tempo para estocar água, mas muito investimento acabou sendo privatizado pelo nosso secular patrimonialismo, que beneficia sistematicamente os grandes proprietários de terras. Mas, há que se reconhecer, é no Nordeste rural que, nos anos recentes, se desenvolve a experiência participativa mais promissora de gestão da água: a Articulação do Semiárido Nordestino, com a experiência de construção comunitária de cisternas familiares coletoras de águas das chuvas, já mais de 500 mil.
Nada, porém, como um verão tórrido e seco, como este de 2014, para a gente pensar na bendita água. Isto é particularmente relevante para as duas maiores regiões metropolitanas do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Para milhões de pessoas a água faltou nas torneiras e chuveiros. As notícias e as imagens alarmantes de represas vazias e o inevitável racionamento, especialmente em São Paulo, apavoram. A enorme estiagem significa também reservatórios hidrelétricos no limite e possibilidade de falta de eletricidade logo aí. Enfim, é a água mostrando que está nas nossas vidas mais do que a gente pensa.
Mas também esquecemos. Estamos vendo imagens de enormes inundações na Região Amazônica. Como seria bom se tanta água fosse melhor distribuída. No entanto, esquecemos que em dezembro, alguns meses atrás, as inundações foram aqui na Região Sudeste. A Baixada, na área metropolitana do Rio, foi devastada por duas enxurradas antes do Natal. O pior aconteceu no Espírito Santo, que quase virou mar. Bem: agora, a seca. Será que isto tudo são catástrofes? Ou não sabemos lidar com a água?
A água e a vida
Não existe vida sem água. E a água mal gerida por nós pode significar morte. É tão simples e trágico assim! A água ocupa um dos lugares centrais no ciclo da vida e do conjunto de sistemas ambientais que regulam a vida, o clima e a própria integridade do planeta Terra.
A água é tão presente no nosso cotidiano que a gente só lembra dela quando falta. É como o ar que respiramos, nunca pode faltar. Mas como somos negligentes com a água! Esperamos que ela flua, venha até nós e passe, pronto. Esquecemos que sem ela não há vida, nenhuma vida. No nosso modo de vida, ainda mais em grandes metrópoles, vivemos um cotidiano sem pensar na água, como se não fosse algo relacionado a uma condição vital, que deveria estar no centro da própria organização social urbana.
Como recurso natural, a água é um estoque dado, uma quantidade na natureza de tamanho determinado: 97,5% da água forma os mares, mas só uma pequeníssima parcela da água doce restante é disponível para consumo, pois muita água está congelada ou armazenada no alto de cordilheiras e na Antártida. A água doce seria suficiente não fosse a forma predatória como a utilizamos. Ela se mantém e renova num ciclo ambiental definido: dos estoques em aquíferos, flui para nascentes, córregos, riachos, rios e deságua no mar, evapora, forma nuvens, chove, irriga a terra e alimenta os aquíferos, e o ciclo recomeça. Isto, de um modo simplificado, mostra o funcionamento de um dos sistemas mais essenciais e, ao mesmo tempo, mais ameaçados hoje em dia, que está no centro das mudanças climáticas. A água é um sistema ambiental complexo, que afeta outros sistemas fundamentais e é por eles afetado: atmosfera e clima, biodiversidade e florestas, oceanos e evaporação. A água fresca, tão essencial, como estoque dado, precisa se renovar no seu ciclo natural.
São afetados e interagem com a água, condicionando, portanto, a vida, toda a vida, mudanças provocadas pela ação humana sobre o meio ambiente: as mudanças climáticas, a acidificação dos oceanos, as emissões de aerosol e o buraco de ozônio, o uso da terra, a perda da biodiversidade, a composição química do meio ambiente (poluição). Hoje a humanidade é uma força que afeta o funcionamento do conjunto dos sistemas ambientais vitais, ultrapassando os umbrais do tolerável para que eles funcionem e não provoquem mudanças imprevisíveis e irreversíveis.
Tomando o exemplo da água, precisamos pensar como formamos o nosso habitat humano, os territórios em que nos organizamos como sociedade. Talvez o exemplo mais emblemático dessa distorção seja o da água mesmo. As águas, pelo seu próprio ciclo, são complexos sistemas de drenagem com suas bacias hidrográficas. Elas estão no centro natural de territórios de todo planeta. No entanto, ao longo da história, tendemos a transformar as bacias em fronteiras humanas, ao invés de sistemas naturais integradores. Quantos rios no mundo não passam de fronteiras entre países! E pior, mesmo no interior de Estados, muitos rios e baciais são fronteiras naturais entre divisões territoriais, chegando até a pequenas unidades administrativas, como os municípios entre nós.
Enfim, neste exemplo sobre a água é possível examinar a tragédia que a ação humana pode provocar. Estamos diante de uma ruptura insustentável entre humanidade e natureza — na religião, na filosofia, na economia, na política, na organização social e no conjunto de nossas práticas pela sobrevivência. Negamos a nossa própria condição de natureza e nos consideramos acima dela, feitos para dominá-la, para violar os seus segredos, segundo Bacon. Agredimos a natureza sem ética, como que negando a ela o direito de ser o que é. O desastre está na nossa porta. A ruptura entre natureza e seres humanos é a causa da insustentabilidade do modo de vida que temos. A água é o exemplo mais palpável.
A crise mundial da água
Já estamos vivendo a crise mundial da água, mas fazemos de conta que não. A humanidade é a principal causa de mudança no ciclo de água fresca, que torna possível a vida no planeta Terra. Hoje, estima-se que 80% dos rios no mundo estão em perigo e 25% deles chegam secos antes de desaguar no mar, o que se soma ao fato de já termos passado do limite natural na acidificação dos oceanos (RISILIANCE ALLIANCE, 2012). Nunca é demais lembrar aqui a tragédia do rio Jordão, no centro da guerra territorial entre Palestina e Israel, que chega seco ao mar Mediterrâneo devido ao uso intenso de suas águas para irrigação pelos israelitas. A antiga União Soviética, devido ao intenso uso agrícola, secou um imenso lago na Europa Central.
Segundo Maude Barlow, do Council of Canadians, a cada dia jogamos de esgoto e de resíduos industriais e agrícolas no sistema mundial de águas o equivalente ao peso mundial de toda a população humana (2 milhões de toneladas). A indústria de mineração no mundo deixa nos territórios, como veneno, o equivalente a cerca de 800 trilhões de litros, a cada ano. Estima-se que um terço de todo o fluxo de água é usado hoje para a produção de agroenergia, água suficiente para satisfazer a necessidade de toda a população mundial. Por isto, a água é uma das maiores ameaças ecológicas para a humanidade. A água contaminada mata mais crianças por dia do que HIV-AIDS, malária e as guerras juntas (BARLOW, 2010).
Não falta água, nós é que criamos a escassez de água pelo modo com que a usamos. Devido à escassez criada, a água se transformou num negócio global. Por que? Para que? Nada mais emblemático do absurdo do negócio da água do que o trágico acidente no grande túnel de passagem entre Itália e França no Mont Blanc, anos atrás. O acidente foi provocado por dois caminhões… carregados de água, um da Itália para a França e outro da França para a Itália!
Estamos diante de um iminente risco da água virar mais uma commodity, de ser transformada em um produto comercializável, que se adquire pelo preço determinado de quem a explora. Aliás, isto é precisamente o que está sendo proposto sob o belo nome de economia verde e sustentável, que estende o domínio do capitalismo e dos mercados a toda a natureza e seus chamados “serviços”. Está em jogo o próprio direito de viver. Cobrar taxa para que a água jorre na torneira de casa, um direito fundamental, já é discutível. Mas ter que pagar pelo monopólio privado da água é estar submetido a uma violação absurda de um direito básico.
A gradativa escassez gerada e a mercantilização da água afetam tudo na vida humana e na natureza: a diversidade de culturas humanas, a biodiversidade natural, o alimento, a segurança ecológica e o funcionamento dos sistemas ambientais, que vão do sequestro de carbono da atmosfera, da resiliência dos sistemas aquáticos e terrestres, à regulação do clima. A água, num certo sentido, resume nela a crise do desenvolvimento que temos, que produz luxo e lixo ao mesmo tempo, tudo em nome da acumulação de riquezas.
As lutas pela água
Neste final de verão e início de outono, entre tantas questões que alimentam as inquietações do nosso cotidiano, surgiu a questão do uso das águas do rio Paraíba do Sul. Com nascentes em São Paulo, mas correndo em direção ao Nordeste, sendo o principal rio e atravessando todo o Estado do Rio de Janeiro, suas águas viraram uma controvérsia federativa. Com falta de água, São Paulo quer interligar a bacia do Paraíba do Sul ao sistema Cantareira, que abastece a Grande São Paulo, hoje sob ameaça de “estresse” hídrico. Sem entrar nos meandros técnicos, o fato soa como uma ameaça, uma guerra federativa. Por que? Não desenvolvemos uma cultura de gerir nossas águas como um bem comum.
A água já está no centro de importantes conflitos sociais pelo mundo. A lista de exemplos é longa. Basta lembrar alguns. Além da disputa do rio Jordão entre Palestina e Israel, importa lembrar aqui a questão do Tibet, ocupado militarmente pela China por causa exatamente da água, pois os dois grandes rios chineses são abastecidos naturalmente pelo degelo das montanhas do Himalaia. Em 2000, devido à tentativa de privatização do abastecimento de água em Cochabamba, na Bolívia, explodiu a guerra popular pela água, obrigando o governo a rever a sua decisão. Na Índia, alastrou-se um grande movimento contra a Coca-Cola, devido ao crescente controle dessa multinacional de refrigerantes de fontes naturais de água fresca, logo num país onde a água não é exatamente abundante. Cabe lembrar que a Coca-Cola usava 3 litros de água fresca para produzir 1 litro de seu refrigerante. Foi em Mumbai, na Índia, em 2004, durante o Fórum Social Mundial, que a comercialização da Coca-Cola foi proibida no espaço de realização do evento. Talvez isto tenha ajudado a empresa a adotar práticas um pouquinho mais responsáveis, pois em 2009, conforme publicação da própria empresa, se consumia 2,04 litros de água para cada litro de produto (COCA-COLA, sd).
Mas a água não é só disputada pelo seu consumo imediato. Ela representa complexos sistemas, que muitas vezes são agredidos em nome do desenvolvimento. No momento, é possível ver isto na questão que envolve a construção das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, e de Belo Monte, no Xingu. O uso da água para gerar energia elétrica é uma forma de extrativismo agressivo social e ambientalmente, apesar de ser contabilizada como energia limpa nas estatísticas do país. Para construir hidrelétricas é preciso agredir o rio e o que ele significa para a população que vê no rio agredido uma parte fundamental de seu território e seu modo de vida. Na bacia do Xingu vivem importantes povos indígenas, com seu direito ao território reconhecido em nossa constituição democrática.
Interessante lembrar aqui o caso de Itaipu, hidrelétrica construída pela ditadura nos anos 70 do século passado. O Rio Paraná, em Itaipu, é fronteira entre Paraguai e Brasil. Para usá-lo na produção de energia foi importante um acordo que divide ao meio, entre os dois países, a energia produzida. Mas como ficou a população a ser “inundada”? Eram milhares de pequenos produtores familiares só do lado brasileiro. O processo de exclusão da área foi feito à força, com indenizações que não garantiam a reprodução das mesmas condições de vida em outro lugar. Surgiu, então, o movimento dos atingidos por barragens e, dado que havia sem-terra, o MST tem uma da origens por lá. Acontece que ninguém pensou nos índios Guaranis, ocupantes ancestrais de todo o território. Só depois, muito depois, é que a questão mereceu atenção e foram cedidos territórios específicos para os Guaranis. Mas o interessante é como a questão da água do rio mudou no decurso do tempo. Usina hidrelétrica depende de água como qualquer ser vivo. O Oeste do Paraná é uma das áreas de maior intensidade de exploração agrícola e pecuária intensiva. O assoreamento do lago de Itaipu avançava espantosamente.
Foi por iniciativa da própria Itaipu que, desde 2003, se desenvolve o exemplar programa “Cultivando Água Boa”, de sustentabilidade das águas e do modo de vida dos municípios brasileiros do entorno. Á água, ontem agredida e usada como mero recurso, hoje é cuidada, das microbacias dos rios, que alimentam o lago, ao alimento orgânico produzido para as escolas da região.
Enfim, existem conflitos sociais porque a água é de algum modo ameaçada como bem comum, que está aí no centro de toda a vida. O aprisionamento da água para o seu uso privado, para a sua mercantilização direta ou na forma de minérios, energia, insumo na produção agrícola e industrial, é o que a torna escassa e motivo de disputa. Na verdade, hoje em dia, todos os conflitos de água se referem a territórios específicos, territórios entendidos como as condições dadas, as naturais e as criadas pela ação humana passada, e os modos de vida atuais que os organizam. Aí a água pode ser tratada como um mero recurso natural, na visão de empresas e, muitas vezes, governos, ou como um bem essencial à própria vida de quem aí vive. A disputa, simplificadamente, é entre tais visões diametralmente opostas.
A Água como bem comum
Aqui é essencial destacar a água como bem comum fundamental da vida, de toda vida. Os bens comuns, ou simplesmente comuns, são parte intrínseca da integridade das condições de vida de todos e todas. São bens comuns: o próprio planeta Terra, a atmosfera (o ar e o clima), o espaço sideral (órbitas geoestacionárias) e o espectro de ondas (para frequências de comunicação), a biodiversidade, as terras férteis, as montanhas, os oceanos, os rios, as águas….Bens que existem em um estoque dado. São também comuns bens produzidos como a língua e a cultura, o conhecimento, a informação, a internet… , todos bens que se multiplicam e se enriquecem com o seu uso humano. A cidade, como um conjunto coletivo, é um bem comum, convivendo com propriedades privadas de casas, apartamentos, casas comerciais e de serviços, indústrias, em seu interior. Nenhum bem é comum por si, torna-se comum, faz-se comum pelas relações sociais (ver: VIEIRA, 2012; HELFRICH et alii, 2009; GRZYBOWSKI, 2011).
O que faz um bem ser comum é o indispensável compartilhamento e o necessário cuidado. A percepção da necessidade de compartilhar e cuidar de certos bens leva os grupos humanos a se organizar e a tratá-los como comuns. Por isto é que socialmente se criam bens comuns. Voltar a tornar comum o que foi privatizado está no centro de muitas indignações e insurgências pelo mundo. O caso da água é um dos mais evidentes e emergentes hoje em dia. A água só é garantida de fato quando tratada como bem comum. No Fórum Social Mundial, ainda na primeira edição em 2001, em Porto Alegre, começou a se formar a rede mundial do direito à água como bem comum, uma das maiores redes de cidadania no mundo. Na luta contra a privatização e pela volta a formas de tratar a água como bem comum vale lembrar aqui os casos de Roma e de Paris, hoje com o abastecimento de água sob a gestão da municipalidade e sob controle direto cidadão.
Ser comum é ser um direito coletivo. Não é uma questão de propriedade. Não é “de ninguém”, mas de todos. Não é só ser público que garante ser de todos. O ar é comum porque é de todos, mas é difícil imaginá-lo público ou, ainda mais difícil, privado. A rua é comum porque pública, também de todos, mas temos experiências de sobra sobre a sua privatização, com cancelas e guardas armados. A água é um direito coletivo porque comum, só que pode ser privatizada na medida em que pode ser aprisionada. Não é automático que a gestão pública da água a trate como um bem comum, mas estar sobre gestão pública muda a natureza do conflito pelo direito coletivo à água.
O privado é o que é controlado privadamente, segundo interesses particulares. O que é público, controlado ou não pelo Estado, deve atender a interesses coletivos, de todas e todos. Mas para isto necessariamente precisa ser visto e tratado como um comum, um direito igual de todos e todas da coletividade. Só a cidadania em ação pode garantir o caráter comum de um bem. A água merece ser mais do que uma tragédia, por sua falta ou excesso. Está no hora de instituirmos publicamente a água como um bem comum. Não esqueçamos que somos gestores de 12% da água doce do mundo!
Para finalizar
Toda a minha análise sobre a água tem como referência o indispensável tratamento que devemos a ela como um bem comum vital. Devemos trazê-la para a agenda pública, para o centro da ação cidadã. Não vamos conseguir enfrentar nossos problemas de justiça social e ambiental sem resgatar a água do seu aprisionamento como recurso na produção e como mercadoria rara por agressivas forças privatizantes. Mas não vamos progredir muito sem lutar para que o Estado garanta o caráter comum da água, como bem a ser compartilhado entre todos e todas, sem discriminações e exclusões.
_
(*) Sociólogo, diretor do Ibase
(**) Este artigo é uma adaptação e atualização de palestra do autor no Seminário “Sustentabilidade – Múltiplos Olhares: Água e Saneamento & Resíduos Sólidos”, organizado pelo Museu Ciência e Vida, Fundação CECIERJ, Duque de Caxias, 07/11/2012.
Referências
• BARLOW, Maude. “Every now and then in history, the race takes a collective step forward in ist evolution”. On the Commons. 2010 (Disponível em: <http://onthecommons.org-commons-future-already-here>. Acesso em 15 out 2012)
• COCA-COLA Brasil. Guia de Sustentabilidade. sd
• GRZYBOWSKI, Cândido. Caminhos e descaminhos para a biocivilização. Rio de Janeiro, Ibase, 2011 (Disponível em <http://www.ibase.br/pt/wp-content/uploads/2011/08/Caminhos-descaminhos.pdf>
• HELFRICH, Silke et alii. Biens Communs – La prospérité par le partage. Berlin, Heinrich Böll Stiftung, 2009.
• O GLOBO. Amanhã. Rio de Janeiro, 11/03/2014
• RESILIENCE ALLIANCE. Planetary Boundaries: exploring the safe operatin space for humanity. Ecology and Society. London, v.14 (Disponível em <www.ecologyandsociety.org/vol14/art32> Acesso em 15 out 2012)
• VIEIRA, Miguel Said. Bens comuns intelectuais e bens comuns globais: uma breve revisão crítica. São Paulo, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2012.
(Disponível em: http://outras-palavras.net/outrasmidias/?p=17002)