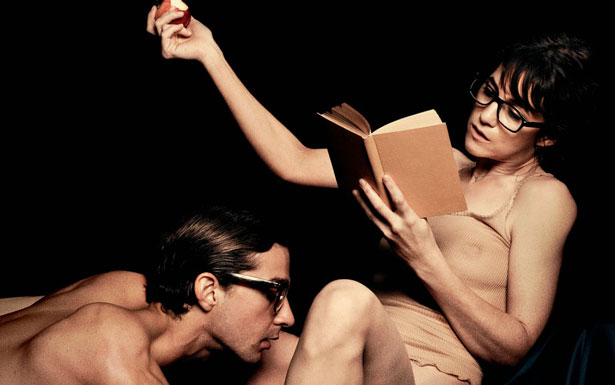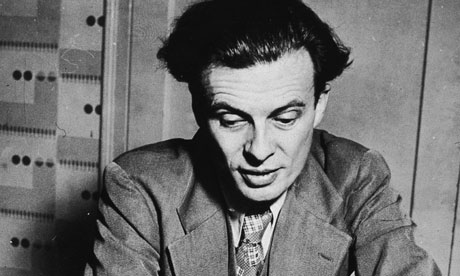Interesses econômicos, ideologia do livre-mercado e crença infinita na técnica bloqueiam ação contra mudança climática. É uma aposta mortal
Por Paul Krugman, no New York Review of Books | Tradução: Cristiana Martin
–
Resenha de:
“The Climate Casino: Risk, Uncertainty, and Economics for a Warming World“, de William D. Nordhaus, Yale University Press, 378 pp.
–
1.
Quarenta anos atrás, um jovem e brilhante economista da Universidade de Yale chamado William Nordhaus publicou um renomado artigo, The Allocation of Energy Resources, que expandiu fronteiras na análise econômica. Nordhaus argumentou que era necessário pensar claramente sobre a economia de recursos esgotáveis como petróleo e carvão, para olhar para o futuro e avaliar seu valor à medida que vão ficando mais escassos. Esse olhar necessariamente envolveria considerar, não apenas recursos disponíveis e crescimento econômico futuro, mas também prováveis futuras tecnologias. Além disso, Nordhaus desenvolveu um método incorporando todas essas informações – estimativa de recursos, previsões econômicas de longo prazo e as melhores previsões de engenheiros sobre custos de futuras tecnologias – em um modelo quantitativo de preços energéticos em um longo período.
topo-posts-margem
Os recursos e informações de engenheiros para o artigo de Nordhaus foram, na maioria, organizados e reunidos por seu assistente, um aluno de graduação de 20 anos que permaneceu longas horas fechado na Biblioteca de Geologia de Yale, debruçado no “Bureau of Mines” e afins. Era uma aprendizagem de valor inestimável. Minhas razões para ter buscado este trecho de história intelectual, no entanto, vão muito além da revelação pessoal – embora os leitores desta resenha devam saber que Bill Nordhaus foi meu primeiro mentor profissional. Pois se alguém se debruçar sobre The Allocation of Energy Resources, aprenderá duas lições cruciais. Primeiro, que é difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro distante. Segundo, que às vezes as previsões devem ser feitas mesmo assim.
Voltando a “Allocation” depois de quatro décadas, o que salta aos olhos é o quão errado estavam os especialistas a respeito das futuras tecnologias. Por anos, seus erros pareciam estar em um superotimismo, especialmente sobre a produção de petróleo e de energia nuclear. Mais recentemente, as surpresas apresentaram-se do lado oposto. A extração de petróleo por meio de fracking tem maior impacto imediato nos mercados, mas a novidade fundamental é a competitividade crescente das energias solar e eólica – nenhuma das quais apareceu na obra “Allocation”. Os preços atuais do petróleo, ajustados pela inflação, são praticamente o dobro do que Nordhaus havia previsto, enquanto o preço do carvão e especialmente o do gás natural estão bem abaixo de suas bases de cálculo.
De modo que o futuro é incerto, uma realidade reconhecida no título do novo livro de Nordhaus: The Climate Casino: Risk, Uncertainty, e Economics for a Warming World (“O Cassino Climático: Risco, Incerteza e Economia para um Mundo em Aquecimento”, sem edição em português). Ainda assim, as decisões devem ser feitas levando em consideração o futuro – e às vezes o futuro de longo prazo. Isso é verdade quando se trata de recursos esgotáveis, em que cada barril de petróleo queimado hoje é um barril não disponível para as próximas gerações. É ainda mais verdadeiro para o aquecimento global, em que cada tonelada de dióxido de carbono emitida hoje permanecerá na atmosfera, alterando o clima do planeta, para as gerações vindouras. E, como enfatiza Nordhaus – talvez não tanto quanto alguns gostariam –, quando falamos em mudanças climáticas a incerteza leva ao aumento, e não ao enfraquecimento da necessidade de ação imediata.
No entanto, embora a incerteza não possa ser banida da questão do aquecimento global, podemos e devemos fazer as melhores previsões possíveis. Acompanhando seu estudo sobre as energias futuras, Nordhaus tornou-se pioneiro no desenvolvimento de “modelos de avaliação integrada”, que tentam reunir o que conhecemos sobre dois sistemas – a economia e o clima –, mapeando a interação entre eles na tentativa de analisar a relação custo-benefício de políticas alternativas (2). Por um lado, The Climate Casino é um esforço para popularizar os resultados dos IAMs e de suas implicações. Mas é também, claro, um convite à ação. Vou perguntar adiante, nesta resenha, se esse convite tem alguma chance de sucesso.
2.
Estilisticamente, The Climate Casino deve ser lido mais como cartilha do que como manifesto – algo que certamente frustrará muitos ativistas climáticos.
Trata-se, é bom lembrar, de uma posição característica de Nordhaus: na comunidade de pessoas razoáveis, que aceitam a realidade do aquecimento global e a necessidade de fazer algo a respeito, ele tem assumido o papel de desmistificador, criticando afirmações muito fortes, que não acredita serem justificáveis por teorias ou evidências. Ele levantou bandeiras de relativo otimismo sobre nossa capacidade de adaptação ao aquecimento global moderado. Criticou duramente o estudo de Nicholas Stern, amplamente divulgado, sobre a economia das mudanças climáticas, argumentando que não deveríamos pensar nos custos impostos às futuras gerações devido ao consumo de combustíveis fósseis nas gerações atuais (3). E assumiu uma postura cética em relação aos argumentos de Martin Weitzman, de Harvard, de ampla circulação, de que o risco de efeitos climáticos catastróficos justifica ações muito rápidas e agressivas para limitar emissões de gases do efeito estufa (4).
Como eu dizia, a participação de Nordhaus nessas controvérsias frustrou alguns ativistas do clima, até porque adversários de todo e qualquer tipo de ação contra as mudanças climáticas usaram seus trabalhos para apoiar a posição deles. Dito isto, é importante notar que The Climate Casino não é, de modo algum, o trabalho de alguém cético sobre a realidade do aquecimento global e a necessidade de agir imediatamente. Ele meio que ridiculariza afirmativas de que as mudanças climáticas não estão acontecendo ou não são resultado da atividade humana. E conclama à ação agressiva: sua melhor estimativa sobre o que deveríamos estar fazendo envolve impor um imposto substancial e imediato sobre a emissão de carbono, de tal forma a aumentar bruscamente o preço atual do carvão, e elevá-la gradualmente até mais que o dobro em 2030.
Talvez alguns até considerem essa política inadequada, mas é muito mais do que existe atualmente na agenda política. Portanto, na prática, Nordhaus e os ativistas climáticos mais agressivos estão do mesmo lado. [...]
Então, o que ele diz neste livro? Primeiro, ele revisa a ciência climática básica. Ao queimar quantidades colossais de combustíveis fósseis, aumentamos enormemente a concentração de dióxido de carbono na atmosfera – e certamente a elevaremos muito mais nas próximas décadas. O problema é que o CO2 é um gás de efeito estufa (assim como muitos outros gases também liberados em consequência da industrialização): ele retém calor, elevando a temperatura do planeta.
De que nível de elevação estamos falando? Nordhaus segue o consenso científico do último relatório do Painel Intergovernamental da Mudança Climática (IPCC), que coloca o provável aumento entre 1,8 e 4 graus centígrados em 2100. Na verdade, Nordhaus aponta para o máximo deste intervalo, com a elevação da temperatura em até aproximadamente 6ºC em 2200. Ele observa também a possibilidade de haver surpresas desagradáveis. Por exemplo, se o aquecimento levar à liberação de quantidades substanciais de metano – um poderoso gás de efeito estufa – provenientes do descongelamento da tundra.
O aquecimento, por sua vez, tem várias consequências para além da simples elevação das temperaturas. O nível dos mares vai aumentar, tanto pela própria expansão da água quanto pelo derretimento do gelo. Aqui, também há a possibilidade de haver surpresas desagradáveis – por exemplo, o derretimento da camada de gelo da Groenlândia, que, por sua vez, causaria mais derretimento. Furacões ficarão mais intensos, pois são “alimentados” por águas mornas. Climas locais podem mudar drasticamente, com áreas úmidas tornando-se ainda mais úmidas ou tornando-se secas.
Há também uma importante consequência do aumento dos níveis de CO2, que não está diretamente relacionada ao aquecimento: os oceanos tornam-se mais ácidos, com efeitos adversos na vida marítima. Efeitos devastadores em recifes de coral já são provavelmente inevitáveis.
Quanto prejuízo isso provocará? Nordhaus desenha um contraste entre o que ele chama de “sistemas gerenciados” – como a agricultura e a saúde pública, atividades humanas basicamente afetadas pelo clima – e “sistemas não gerenciáveis”, tais como nível dos mares, acidificação dos oceanos e desaparecimento de espécies. Comparado a alguns autores, Nordhaus é relativamente otimista sobre o impacto da elevação das temperaturas nos sistemas gerenciados. Na verdade, ele resume estudos que sugerem um provável pequeno aumento das colheitas agrícolas graças a um ou dois graus de aquecimento, e declara: “É impressionante como este resumo das evidências científicas contrasta com a retórica popular.” Ele também vê os impactos na saúde como modestos, ao menos com o aquecimento provável neste século, com avaliação “similar à da agricultura”.
Os maiores custos, argumenta Nordhaus, vêm dos sistemas não gerenciáveis: elevação dos oceanos, furacões mais intensos, perda na diversidade de espécies, oceanos cada vez mais ácidos. O problema é como colocar um número nesses custos – o que ele precisa fazer, pois, como já apontei, seu objetivo é fazer uma análise da relação custo-benefício.
No fim, e apesar da desmistificação, Nordhaus conclui que haverá custos crescentes conforme a elevação da temperatura vá além dos 2°C – e um aumento de no mínimo tal grandeza parece, a esta altura, quase impossível de evitar. Quando se leva em conta o risco de aumentos surpreendentes na temperatura, surge um impulso incontrolável de agir para limitar a mudança climática. O problema, então, é qual o tamanho da ação e que forma ela deveria tomar.
3.
Existe uma facção no debate sobre o clima que reconhece a realidade do aquecimento global e seus custos, mas rejeita a noção de tentar limitar a emissão de gases causadores do efeito estufa – seja porque considera seus custos muito caros, ou (suspeita-se) porque limitar os impactos humanos no meio ambiente faz com que algumas pessoas imaginem que isso seja coisa de “hippie”. Assim, essa facção clama por uma geoengenharia: ao invés de limitar os impactos humanos, nós deveríamos compensá-los com outros impactos na direção contrária.
Muitos ambientalistas rejeitam a ideia da geoengenharia. Nordhaus não; ele sugere que esquemas como o bombeamento de aerosóis refletivos na alta atmosfera poderia livrar o aquecimento global dos gases de efeito estufa a um preço relativamente barato. Mesmo assim, como ele aponta, a geoengenharia não iria de fato reverter os efeitos dos gases, apenas servir para desencadear outros efeitos e isso, apenas em níveis globais. A acidificação do oceano, por exemplo, iria continuar; e mesmo se a média da temperatura global pudesse ser estabilizada, poderiam ocorrer enormes variações em climas e temperaturas locais.
No fim, Nordhaus faz uma bela análise de por que a geoengenharia deveria ser estudada e, consequentemente, guardada como carta na manga, da mesma maneira como médicos estudam e guardam em suas mentes tratamentos perigosos mas poderosos, a serem utilizados apenas, e só apenas, quando todo o resto falha. A primeira linha de defesa deveria ser um esforço para limitar o aquecimento global limitando as emissões de gases. Como isso pode ser feito?
No texto introdutório ao capítulo de Economia do livro, ele fala sobre o conceito de “externalidades negativas” – custos que as pessoas impõem aos outros através de ações, sem serem responsabilizadas por isso. Poluição e congestionamento no trânsito são dois exemplos clássicos – e emissão de gases é, em nível conceitual, apenas um tipo de poluição. É verdade, existem aspectos incomuns nesses gases: o mal que eles causam é global, não local; os prejuízos estendem-se para um futuro longínquo, ao invés de se manifestarem esporadicamente, e existe o risco de essas emissões causarem, além de prejuízos, uma catástrofe na civilização.
Contudo, apesar dos aspectos incomuns, muitas análises do livro deveriam ser aplicadas. E o que Nordhaus diz é que a melhor maneira de controlar a poluição é colocar um preço nas emissões, para que os indivíduos e empresas tenham um incentivo financeiro para reduzi-los. [...]
Por que tributar o carbono é melhor do que regular diretamente as emissões? Todo economista conhece os argumentos: medidas para reduzir emissões podem acontecer em muitas “margens”, e nós deveríamos dar às pessoas incentivo para explorar essas margens. Deveriam os próprios consumidores tentar usar menos energia? Eles deveriam mudar seu consumo para produtos que usam menos energia ao ser fabricados? Deveríamos tentar produzir energia a partir de fontes com menores níveis de emissão (gás natural) ou sem emissão alguma (eólica)? Deveríamos tentar remover o dióxido de carbono (CO2) após o carbono ter sido queimado, ou seja, por captura e sequestro em complexos de energia? A resposta é: todas acima. E colocar um preço no carbono, na verdade, dá às pessoas um incentivo para realizar todas elas.
Por outro lado, seria muito difícil estabelecer regras para conseguir cumprir todas essas metas; na realidade, apenas conseguir comparar as emissões para fazer uma simples escolha, seja dirigir um carro ou voar até uma cidade distante, não é nada fácil. Por isso, estabelecer preços para carbono é o caminho a ser seguido. [...]
4.
Gostei de The Climate Casino, e aprendi muito com ele. Mesmo assim, enquanto o lia, não pude deixar de me perguntar para quem, exatamente, o livro foi escrito. Ele adota um tratamento calmo e fundamentado, ordenando o que há de melhor em evidências econômicas e científicas em favor de uma abordagem pragmática da política. E este é o ponto: quase todo mundo que responde a esse tipo de argumento já é favorável a uma forte ação contra a mudança climática. O problema são os outros.
Claro que Nordhaus está ciente disso, mas creio que ele minimiza quão ruim está o cenário. […] O ponto é: há poderes reais por trás da oposição a qualquer tipo de ação climática – poderes que desvirtuam o debate, tanto negando a ciência climática quanto exagerando os custos para reduzir a poluição. E esse não é o tipo de poder que pode ser afastado com argumentos tranquilos e racionais.
Por que alguns indivíduos poderosos e grandes organizações se opõem tão fortemente à ação, diante de perigo tão claro e presente? Parte da resposta é pura e simplesmente interesse próprio. Enfrentar o aquecimento global envolveria eliminar o uso de carvão, exceto na medida em que o CO2 puder ser recapturado após o consumo; envolveria redução do consumo de combustíveis fósseis; e preços substancialmente mais altos para a eletricidade. Para alguns tipos de negócio, isso significaria bilhões de dólares perdidos, e para os donos desses negócios, subsidiar a negação climática tem sido um investimento altamente lucrativo.
Para além disso tudo está a ideologia. “Os mercados sozinhos não resolverão esse problema”, declara Nordhaus. “Não há ‘solução de livre mercado’ genuína para o aquecimento global.” Isso não é uma afirmação radical, é apenas economia básica. Contudo, é um anátema para os entusiastas do livre mercado. Se você gosta de se imaginar como personagem de um romance de Ayn Rand, e alguém diz a você que o mundo não é daquele jeito, que ele necessita intervenção do governo – não importa quão amigável ao mercado ele possa ser – sua resposta provavelmente será rejeitar a informação e se apegar a suas fantasias. E, é triste dizer, um bom número de pessoas influentes na vida pública norte-americana acredita estar atuando no Atlas Shrugged.
Finalmente, há um forte traço no conservadorismo norte-americano moderno que nega não só a ciência climática, mas também os métodos científicos em geral. Uma enquete sugere, por exemplo, que a grande maioria dos republicanos rejeita a teoria da evolução. Para pessoas com essa mentalidade, permanecer alheio ao consenso científico sobre a questão apenas sustenta e alimenta fantasias sobre conspirações malucas.
Daí minha preocupação com a utilidade de livros como The Climate Casino. Dado o estado atual da política norte-americana, a combinação de interesse próprio, ideologia e hostilidade à ciência constitui um enorme obstáculo à ação, e a argumentação racional provavelmente não ajudará. Enquanto isso, o tempo está se esgotando, à medida que a concentração de carbono continua a subir.
Ao longo deste livro, o tom de Nordhaus é um pouco cínico, mas basicamente calmo e otimista: o aquecimento global é, em última análise, um problema que deveríamos ser capazes de resolver. Só gostaria de poder compartilhar de sua aparente convicção de que essa possibilidade vai se traduzir em realidade. Ao contrário, continuo sendo assombrado por um dado que ele apresenta no início do livro, ao mostrar que temos vivido em uma era de estabilidade climática incomum – “os últimos 7.000 anos têm sido o período de clima mais estável em mais de 100 mil anos”, afirma. Como pontua Nordhaus, esta era de estabilidade coincide exatamente com a ascensão da civilização, e isso provavelmente não é uma coincidência.
Agora, este período de estabilidade está terminando – e foi a civilização que produziu isso, por meio da Revolução Industrial e da queima maciça de carvão e outros combustíveis fósseis. A industrialização, é claro, tornou-nos imensamente mais poderosos, e mais flexíveis também, mais capazes de nos adaptar a circunstâncias em transformação. A Revolução Científica que acompanhou a revolução na indústria também nos deu muito mais conhecimento sobre o mundo, inclusive a compreensão sobre o que estamos fazendo com o meio ambiente.
Mas parece que fizemos, sem saber, uma aposta tremendamente perigosa: a de que seremos capazes de usar o poder e conhecimento que adquirimos nos últimos séculos para enfrentar os riscos climáticos que desencadeamos no mesmo período. Vamos ganhar a aposta? O tempo dirá. Infelizmente, se a aposta não der certo, não teremos outra chance de jogar.
–
Notas
(1) Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 3 (1973).
(2) Ver, por exemplo, William D. Nordhaus and Joseph Boyer, Warming the World: Economic Models of Global Warming (MIT Press, 2000).
(3) William D. Nordhaus, “A Review of the ‘Stern Review on the Economics of Climate Change’,”Journal of Economic Literature, Vol. 45, No. 3 (September 2007).
(4) Ver Martin L. Weitzman, “On Modeling and Interpreting the Economics of Catastrophic Climate Change,”The Review of Economics and Statistics, Vol. 91, No. 1 (2009); e William D. Nordhaus, “The Economics of Tail Events with an Application to Climate Change”,Review of Environmental Economics and Policy, Vol. 5, No. 2 (2011).
(Disponível em:
http://outraspalavras.net/capa/krugman-a-civilizacao-no-cassino/)