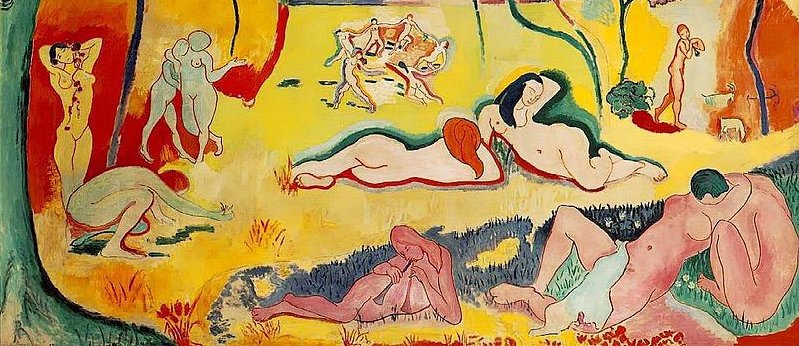Por Gabriel Martins*
Nas últimas semanas foi divulgado manifesto de servidores públicos da carreira de magistério superior da UFSC em que se exige que as eleições para reitor dessa universidade, a ocorrer em 2015, tenham os votos dos professores equivalentes a 70% dos votos totais, mesmo sendo os professores apenas 5% do total da comunidade universitária, composta também por estudantes e Técnicos-administrativos em Educação (TAEs). O documento foi divulgado na UFSC e na imprensa catarinense e responde pelos motivos dos pouco menos de 20% dos professores da UFSC terem encaminhado abaixo-assinado à Administração Central da universidade com a exigência do que interpretam ser o cumprimento das leis em torno das “eleições” para reitor na maior universidade de Santa Catarina.
No documento, assinado por 12 servidores, são expostos dois motivos centrais à exigência: (a) a legalidade e (b) o “mérito docente”. Carece o manifesto, portanto, de contextualização e, com base nessa mesma contextualização, falta ao manifesto elementos essenciais para a análise tanto da legalidade quanto do mérito, ao que me proponho aqui a examinar.
O contexto do manifesto
O abaixo-assinado foi elaborado no decorrer do desenvolvimento dos trabalhos de um Grupo de Trabalho (GT) designado pelo Conselho Universitário da UFSC (CUn) para revisar as regras para a consulta informal à comunidade universitária à escolha dos próximos reitor(a) e vice-reitor(a) da Instituição.
No decorrer dos trabalhos do GT foi divulgado um texto chamando a comunidade universitária para debater as formas legais possíveis de consulta, sendo apontada a discrepância dos regramentos formais, que não atendem a critérios democráticos por considerarem que cidadãos brasileiros se distinguem quando estão na Universidade. Para esclarecer os aspectos centrais dessa questão, abordarei aqui tanto a legalidade quanto o “mérito docente”, de modo a deixar claro que não há qualquer ilegalidade em os professores não terem peso 70% nas “eleições” para reitor. Viso também deixar claro que o alegado “mérito docente”, que justificaria o fato de os professores serem os únicos capazes de escolher o reitor das universidades, não tem consistência dentro das universidades brasileiras, conforme estão regradas pela Constituição de 1988. Ou seja, ou os autores do manifesto exigem o cumprimento integral das leis e aceitam que o “mérito docente” não é condizente com os argumentos apontados, ou defendem o “mérito docente” e contrariam a lei. Mas analisemos primeiro a legislação para as “eleições” de reitor nas Instituições Federais de Ensino Superior.
A legislação para as “eleições” para reitor
Em primeiro momento é relevante esclarecer: não existem, legalmente, eleições para reitor nas universidades brasileiras. A lei 5.540 de 1968 – período de exceção do Estado Brasileiro, que vivenciava naquele momento um processo ditatorial que perduraria por cerca de 21 anos – aponta que o cargo de reitor é exclusivamente nomeado pela presidência da República. Com o passar dos anos os decretos que melhor instruíam essa nomeação se alteraram e hoje o que perdura afirma que a presidência nomeia a reitoria das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) a partir do quadro de professores da própria instituição e que tenham título de doutorado. Para a escolha desse nome, a universidade elabora uma lista com três nomes de sua preferência, e em ordem de preferência, no que se chama lista tríplice.
Quem elabora a lista tríplice é o órgão deliberativo máximo da universidade no caso da UFSC é o CUn. O CUn tem de encaminhar a lista tríplice a partir de determinados regramentos. Os nomes são auto-indicados, ou seja, tem de haver o compromisso do professor doutor de querer ser reitor. Os nomes auto-indicados (candidatos) são votados pelo CUn, em um processo em que cada conselheiro universitário vota em somente um nome e os três mais votados compõem, em ordem de votação, a lista tríplice a ser encaminhada ao Ministério da Educação (MEC). O CUn é, por força de lei, formado pelo mínimo de 70% de professores.
Mas é possível também, por questões tanto de legalidade quanto de legitimidade, que o CUn faça uma consulta pública aos demais membros da comunidade universitária. Sem esse procedimento, seria possível o mais corrosivo mal a uma democracia: a perpetuação do poder, pois todos os professores do CUn são, por força de lei federal, indicados pelo reitor. Isso ocorre porque da mesma forma como é a presidência da República quem de fato escolhe a reitoria da universidade, é atribuição da reitoria a escolha dos diretores de centros de ensino e pró-reitores. E é atribuição dos diretores dos Centros de Ensino a escolha dos representantes docentes no Conselho Universitário. Ou seja, o reitor, por força de lei, nomeia 70% do Conselho Universitário.
Desse modo, se competir tão somente ao CUn a indicação da lista tríplice a ser encaminhada ao MEC, pode facilmente ocorrer a perpetuação de poder, pois 70% do CUn é, por lei, nomeado pelo reitor e esses mesmos 70% indicam o reitor.
As consultas são, desse modo, adotadas tanto para a escolha dos nomes da lista tríplice, quanto para a designação de Diretores dos Centros de Ensino, Coordenadorias de Curso etc.
As consultas, a legalidade e a legitimidade
Com a lógica de o CUn indicar os nomes para reitor e o reitor indicar os nomes para o CUn, que é o que obriga a legislação brasileira, as chances de constituição de uma oligarquia na gestão de todas as instâncias da universidade são imensas. Apesar de legal, tal medida não é, contudo, legítima. Imaginemos o que ocorreria se atual administração da UFSC passasse a exigir a lei e nomeasse novos diretores dos Centros de Ensino e representantes docentes para o CUn. A atual reitoria teria, portanto, automaticamente 70% de todas as cadeiras do CUn, que indicaria os novos nomes, em ordem de preferência, para a reitoria a partir de 2016. E ninguém se surpreenderia com uma reeleição ou com a condução de um de seus aliados políticos para a nova gestão, que então indicaria 70% do CUn, que indicaria o novo reitor, e assim, ad eternum, até a completa degeneração das instâncias democráticas e acadêmicas. Ou até o levante da universidade.
A fim de evitar comoções ou degenerações deletérias, as universidades adotam, desde os anos 60, o processo de consulta, que se assemelha a uma eleição. As consultas, contudo, não necessariamente substituem a indicação do CUn, mas indicam o que pensa a comunidade universitária, orientando e legitimando a escolha do Conselho. Na UFSC, as consultas datam de 1991. Nos anos 70, houve colégios eleitorais, sendo o de 1976 emblematicamente composto por 21 professores, 3 estudantes e 1 representante da FIESC. Os estudantes se recusaram a votar.
Atualmente todas as IFES brasileiras realizam consulta à sua comunidade, antes da elaboração da lista tríplice, e, em curiosa proporção, 70% das IFES realiza consulta com peso de votos paritários, ou seja, 33% dos votos da consulta é relativo a cada categoria (professores, TAEs e estudantes).
As consultas formais e informais
Há, conforme orientação do MEC, duas formas de consulta: as consultas formais e as consultas informais. A palavra formal diz respeito, é importante ressaltar, ao termo forma não ao termo legítimo, como pode, por vezes, parecer. O que diferencia, portanto, as consultas formais das consultas informais não é a formalidade do ato de consultar, ou quem realiza a consulta, mas o fato de que as consultas formais têm a forma pré-estabelecida de 70% dos votos válidos serem de servidores docentes (professores) e os outros 30% entre as restantes categorias. As consultas formais podem ter como consequência a possibilidade do colegiado eleitoral responsável por elaborar os documentos de encaminhamento da lista tríplice, havendo, portanto, a delegação de uma atividade do CUn para outro fórum.
A consulta informal, por seu turno, é um processo de consulta sem forma definida (por isso, reitero, o termo informal, que quer dizer aqui, sem forma) e que, desse modo, pode ter qualquer forma, sem haver desrespeito às normas postas. A maioria das consultas informais é paritária, mas nada impossibilita ou impede a consulta universal, ou seja, a instituição de uma forma de consulta que considera que o voto de qualquer indivíduo da comunidade universitária valha o mesmo que o de outro indivíduo, independente do vínculo estabelecido.
A consulta informal pode ser organizada por qualquer órgão ou entidade, e não há restrição legal para ser organizada por colegiado por delegação do CUn, desde que, após a consulta, os resultados sejam meramente norteadores. Ou seja, após a consulta, o CUn realiza uma eleição e elabora a lista tríplice, sem delegar qualquer atividade a outro grupo, colegiado ou órgão. Dessa forma, a despeito do afirmado de que esta consulta seria obrigação do CUn e que a consulta informal seria “terceirização” das atividades daquele Conselho, o que ocorre é justamente o contrário: com a consulta formal o CUn abdica de formular a lista tríplice, e com a consulta informal, o resultado da consulta volta ao CUn, que procede a formação da lista tríplice sem estar obrigado a consentir com os resultados da consulta.
O GT Democracia UFSC e a proposta polêmica
A crítica recebida de “terceirização das atividades do CUn” ao haver a sugestão de revisão das normas da consulta informal à comunidade é infundada, pois conforme ressaltei acima, o GT instituído pelo próprio CUn em análise à legislação vigente apontou para a necessidade de o CUn, diante de sua responsabilidade de envio da lista tríplice ao MEC, realizar anterior consulta à comunidade universitária, a fim de atender aos anseios dessa mesma comunidade, em acordo com os princípios democráticos e considerando que todos os membros da comunidade universitária possuem igualdade de condições de discernir, dentre os candidatos possíveis, quais os que possuem o mais relevante mérito de formular um programa legítimo perante a comunidade que representará por quatro anos.
Há quase 221 anos atrás a França escandalizava o mundo com a regulamentação do voto universal (para homens, diga-se de passagem). No mundo todo houve inúmeras teorizações sobre o valor dos homens ricos em detrimento dos homens pobres. Julgava-se que alguém sem posses era alguém incapaz de decidir por seu próprio futuro. Em verdade o que estava em jogo era a possibilidade de tributação da riqueza, que somente seria proposta por quem não fosse parte dos mais ricos. Hoje ninguém contesta o voto universal, extensivo agora (nada mais justo) às mulheres e a todos aqueles que são considerados passiveis de responderem por seus próprios atos. Ou seja, se um indivíduo é passível de responder por seus atos, ele é também passível de responder e opinar sobre o futuro de sua comunidade. Isso só não ocorre nas ditaduras.
Na Revolução Francesa, considerou-se que o voto era um direito inalienável de todo o ser humano, sendo equiparado ao direito à vida, por ser considerado o direito de decidir livremente por sua própria vida em sociedade.
Considerando todos esses aspectos, além dos conceitos de cidadania, o GT denominado “Democracia” propôs o voto universal, pois se para escolher o Presidente da República que é quem de fato nomeia os reitores, todos os membros da comunidade universitária com mais 16 anos têm o voto de mesmo peso, porque então para escolher quem integrará a lista tríplice a ser enviada para esse mesmo presidente seria diferente?
O voto universal não coloca em xeque que quem será o reitor ou reitora será um professor de magistério superior com título de doutorado, o que quer dizer que toda a apelação para que os professores decidam (sozinhos, ou praticamente sozinhos) o futuro da universidade não tem cabimento, pois só essa categoria pode ser dirigente máximo das universidades brasileiras, conforme largamente argumentado no Relatório Final do GT Democracia UFSC, disponível na página www.gtdemocracianaufsc.wordpress.com
A argumentação em torno do que aqui chamo de “mérito docente” do manifesto redigido pelos 12 professores da UFSC utiliza-se de vasto arsenal para apontar como somente os docentes podem direcionar as universidades em um protesto que não levava em consideração que a proposição de voto universal é, infelizmente, limitada ao voto, não a quem pode se eleger. Ou seja, independente da forma de consulta, somente professores do magistério com título de doutor podem assumir o cargo de reitor.
O vasto arsenal argumentativo em defesa do “mérito docente” era, portanto, irrelevante, a não ser que se considerasse que nem mesmo votar as demais categorias seriam capazes. Apesar de desnecessário, seu uso foi além de exagerada, carregado de sérios problemas, os quais não posso me furtar de comentar.
Quem é a base intelectual da universidade
No manifesto que circulou um pouco na universidade e um pouco mais na mídia se afirma que “O professor é a base intelectual da universidade. É ele quem cria as disciplinas e os programas de graduação e pós-graduação e quem estabelece e coordena os projetos de pesquisa e extensão. É o professor o responsável pelo domínio, produção e difusão do saber e pela formação dos nossos quadros, necessários ao desenvolvimento do país”. Há aqui, no entanto, afirmações bastante imprecisas.
(I)Em primeiro momento a produção do saber humano não é responsabilidade, nem, muito menos, exclusividade da docência. O professor não fundou o saber e a humanidade produz conhecimento em muitas outras áreas que não são abrangidas pela universidade.
(II)Se a produção do conhecimento não é exclusividade dos professores universitários, o ensino também não é atividade de um único sujeito. Não existe ensino sem aprendizagem, e esse processo de ensinar em nada se assemelha a uma transmissão de conhecimentos a um sujeito desprovido de saberes. O ensino-aprendizagem é um processo mais amplo em que os estudantes são tão sujeitos quanto os docentes, ainda que com momentos predominantes distintos.
(III) Se não é exclusividade docente a produção do conhecimento e o domínio do processo de ensino-aprendizagem, tampouco lhe são exclusivas as atividades de pesquisa e extensão. Conforme o artigo 207 da Constituição Federal, as atividades de ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis. Ou seja, não podem as universidades desenvolver atividades exclusivamente de ensino, ou de pesquisa ou de extensão. Além disso, os projetos de pesquisa têm de visar ao desenvolvimento do conhecimento e dos saberes humanos, que retornarão ao processo de ensino-aprendizagem, e os projetos de extensão apontam para outras formas de disseminação e desenvolvimento do conhecimento, que igualmente refluem ao processo de ensino-aprendizagem.
Se são indissociáveis, todas essas atividades fazem parte de um grande processo que é a produção, sistematização e socialização dos conhecimentos humanos em quaisquer áreas, e esse grande processo tem, em seus momentos constitutivos outros sujeitos que não professores, isso significa que o professor não é a base intelectual da universidade, mas uma dessas bases. Ora, se são indissociáveis as atividades de ensino, pesquisa e extensão e existem projetos de pesquisa e projetos de extensão que são coordenados e desenvolvidos por técnicos-administrativos em Educação (TAEs), isso quer dizer que essa categoria é muito mais que um mero suporte técnico e administrativo, mas é também parte constitutiva da produção, sistematização e socialização de conhecimentos.
São inúmeros os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelos TAEs da UFSC hoje, e variam de áreas técnicas, às ciências humanas, além de muitos projetos de pesquisa e extensão na área artística. Disso devem saber todos na universidade, ou ao menos todos aqueles que veem a universidade como algo mais que um grande colégio de estudantes letárgicos a receberem conhecimentos transmitidos por seres iluminados. A universidade, não somente as “boas universidade do mundo”, é um local de universalização do conhecimento, não somente no que diz respeito a quem “recebe” este conhecimento, mas em relação também a quem produz e sistematiza muito mais que disciplinas, mas saberes humanos.
* Gabriel Martins trabalha como Administrador no Centro de Ciências da Educação da UFSC, onde atua como Coordenador Administrativo desde que deixou o cargo de Coordenador de Apoio Pedagógico junto à Pró-reitoria de Graduação. Graduado e mestre em Administração pela UFSC, está no último ano do doutorado na UFRJ. É atualmente também coordenador de pesquisas aprovadas pela UFSC nas áreas de Políticas Públicas e coordena atualmente projetos de extensão nas áreas de literatura e teatro. Desde abril 2013 é conselheiro universitário e foi designado presidente do GT Democracia UFSC, cujo Relatório Final propondo o voto universal para a próxima consulta para reitor da UFSC foi entregue no dia 10 de abril de 2014.